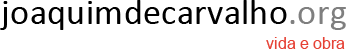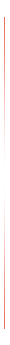Quando o Duque de Lafões, num dia já distante celebrado há pouco por vós, Senhores Académicos, tão jubilosamente, fundou a Academia Real das Ciências, talvez sem o pressentir com clareza, encerrava o ciclo de urna cultura.
A indiferença pela natureza que nos circunda e incita, a inapetência científica, o predomínio da erudição, da letra sobre o espírito, e a suspicácia dos resultados pragmáticos da ciência — tudo isto, que constituíra o lugar-onde de encontro da quase totalidade dos homens cultos portugueses durante dois séculos, se achou ser naquele dia exausto e moribundo.
Porquê e como foi possível esta ruína?
Qual é a sua significação atual?
Tais são, Senhor Presidente, as duas perguntas a que vou ensaiar uma resposta, com ânimo turbado pelo receio, tanto mais que, abandonando a via cómoda da narração histórica, que nunca explica, embora às vezes descreva e deleite, me aventurarei pela região das ideias, de tão sedutora aparência e de tão difícil acesso.
Corno haveis notado, é sobre a conversão da inteligência a um novo estilo e a um novo ideal de pensamento que me esforçarei por atrair a vossa atenção, não abstratamente, more metaphysicorum, para empregar a expressão cara ao sábio quinhentista Pedro Margalho, tão injustamente olvidado, mas em concreto, quero dizer, num dado momento da evolução da mentalidade portuguesa e dos seus ideais de cultura.
Aproximemo-nos, sem mais rodeios, do facto da fundação da Academia no intento de lhe captarmos a recôndita significação. Comecemos pelo mais simples, isto é, pelo contorno exterior, e verificar-se-á imediatamente que dele emerge, como nota característica, uma forma singular de associação para a conquista e para a transmissão do saber. E com efeito, Senhores, independentemente da ciência em si mesma e da sua metódica, nós podemos considerar a morfologia do saber como expressão visível de uma essência, na qual se reconhece, como no próprio saber, o poder criador do espírito. Bastar-me-á convidar-vos a urna fácil e ligeira descida ao campo dos factos, para notardes que se erguem diante de vós, com individualidade altaneira e clamorosa atração, as escolas filosóficas atenienses, a Universitas Scholarum et Magistrorum medieval, as Academias científicas dos séculos XVII e XVIII, e, nos nossos tempos de especialização fecunda e quase bárbara, os Institutos de investigação científica — formas diversas de uma idêntica missão, e cuja diversidade encerra na índole a configuração de mutações de espírito e de ideais. E assim a primeira pergunta de há pouco se volve agora concretamente no problema: o que tornou espiritualmente possível o advento da Academia das Ciências em 1779 e qual foi o ideal que anunciou?
A resposta força-nos a penetrar à maneira de reconhecimento nesse campo de combate que é a estrutura e o valor da cultura pátria durante a Contra-Reforma. Sem enfileirar em nenhuma das hostes, que se digladiam, pelo menos, desde a Teórica das Marés de Jacob de Castro Sarmento, passando por Verney, de cuja polémica se deve datar, talvez, o amanhecer da opinião pública no sentido moderno, e pela pombalina Dedução Cronológica, penso que a única via de acesso e de compreensão serena se nos oferece com a investigação fenomenológica do comportamento do lusitano de setecentos perante a natureza e a vida. O intento de apologia ou de vitupério afigura-se-me estéril, porque recai sobre condições de vida totalmente diversas das contemporâneas, as quais, superadas há muito, é impossível reviver. No íntimo, as duas hastes combatem não tanto pelo que foi como pelo desejo do que tivesse sido, quero dizer, em vez de evocarem ou explicarem, transportam para o passado os dissídios atuais. Esta observação, por assim dizer local, contém em si o problema gravíssimo da possibilidade da explicação histórica. Gravíssimo, disse, porque a unicidade e singularidade irreversível dos factos históricos não permitem a redução à identidade, a qual constitui a essência da explicação científica, e ainda porque, pela natureza do processo psicológico que põe em exercício, a história decorre no espírito do historiador num plano de atualidade; mas despedindo-me destas tremendas dificuldades, ou se quiserdes, por outras palavras, da história como mestra da vida, despeço-me ao mesmo tempo daquelas hostes beligerantes para tentar convosco a via da compreensão mediante um método fenomenológico.
Sob o acontecer humano, tão vário e contingente, flui sem dúvida o sumus, ou seja a relação sociologicamente impessoalizada de homem para homem; mas flui também o ego, ou seja o homem concreto e pessoal, quero dizer, os fins que prossegue, os valores a que adere ou cria
E o conceito que da sua essência e significação no universo forma — fins, valores e essências tão autónomas e irredutíveis, que todos distinguimos como espécies do género humano, dentre outras, o homo faber, o homo credulus, o homo politicus e o homo sapiens. Cada uma destas espécies tem logicamente a sua diferença específica, a qual dita comportamentos diversos em face da vida e do universo, e, como haveis já reconhecido, não basta disparar alguns factos para que se apazigue o nosso afã inquiridor. Fazê-lo, seria tornar-me preguiçoso, pecado imperdoável diante de vós e na casa, cuja única força emana da consagração ao infatigável amor da verdade e ao culto da beleza. Sem querer ser paradoxal, eu penso, aliás com excelente companhia, que o que comummente se chama um facto histórico, por mais acessível que seja o seu semblante, é urna coisa de dificílima determinação, tão difícil que nele vejo urna trama de abstrações simbólicas. Fujamos, pois, desta poeira de acontecimentos desagregados e eventuais com a duração de um instante, que é a narração histórica, e tentemos raptar os conteúdos e formas de vida que servem de fundamento ao processo histórico. É para o terreno das conexões que vos convido, e é óbvio que esta viagem nos atrai para a reflexão sobre a relação do homem com o ambiente, não para extrair do ambiente a vida espiritual, mas, pelo contrário, da vida espiritual o homem exterior, porque com Dilthey penso que é nas modificações que se operam no homem vivo e real e não nas relações entre conceitos do pensamento abstrato que devemos procurar a evolução das conceções gerais, que orientam a conduta.
O mundo e a vida desenrolam diante de nós a sua incógnita existência, e, para que deles enunciemos alguma coisa, carecem de entrar em relação connosco, afigurando-se-me que é na consciência e na forma desta relação que o lusitano de Setecentos se particulariza e distancia de nós.
Em vez de se sentir na natureza, como parte de um grande todo, sentia-se sobre a natureza, e portanto penetrava no mundo confiante e com ânimo de senhorio, disposto, não a conhecê-lo pelo puro amor de conhecer ou pela vantagem prática de se precaver, e, podendo, utilizá-lo à maneira de instrumento, mas a adaptá-lo e a conformá-lo a um sistema ideal. E compreende-se.
Perante o que o rodeia, o homem pode comportar-se diversamente, desde a espectativa de escrupulosa humildade do sábio, à atitude varonil da consciência que situa as coisas numa hierarquia de valores.
Na atitude científica, de gloriosa estirpe helénica, o homem é dominado pelo amor de conhecer e explicar. Os seus juízos articulam-se no modo indicativo. Tudo o que ocorre ou decorreu, seja na ordem real, seja na ordem ideal, lhe merece igual importância, demandando com espírito dubitativo e com o intento de impessoalidade as causas e condições do acontecer.


 História da Ciência[O ideal moderno da ciência] Pedro NunesNewton e o ideal da ciência moderna Jacob de Castro Sarmento et l'introduction (...)João Jacinto de Magalhães Ver índice completo
História da Ciência[O ideal moderno da ciência] Pedro NunesNewton e o ideal da ciência moderna Jacob de Castro Sarmento et l'introduction (...)João Jacinto de Magalhães Ver índice completo