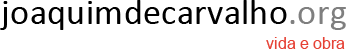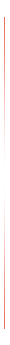Como nos dias longínquos da universidade pombalina, quando a filosofia natural, expressão consagrada pelo génio que hoje comemoramos, era o escopo supremo das demandas da razão e se não haviam dilatado ainda os abismos de especialização, que atualmente nos separam, vedes hoje associado a uma festa da Faculdade de Ciências um professor da Faculdade de Letras.
O desgaste do tempo e os admiráveis progressos científicos do século passado desarticularam definitivamente o velho e venerando regimento legal; mas por pessoal acordo nós o enlaçamos hoje de novo, sem dúvida de uma forma frágil pela minha debilidade, embora ame visioná-lo tenazmente duradoiro, porque nos vincula o anelo do saber e do amor comum às disciplinas desinteressadas e gloriosamente inúteis, que são o timbre das nossas Faculdades.
É este anelo e é este amor comum que nos justificam, Senhores professores da Faculdade de Ciências, porque qualquer que seja a vossa atitude perante o problema das relações da ciência com a filosofia, quer opteis pelo racionalismo clássico de Descartes e Leibniz, isto é, pela metafísica como fundamento da ciência, quer pela conceção positiva da filosofia como generalização da ciência, quer, com Kant, pela crítica epistemológica dos fundamentos do saber, sempre nos encontraremos num terreno comum, ou seja a admissibilidade de uma teoria da ciência.
É neste terreno, Senhores, que tentarei penetrar com passos tímidos e entorpecidos, do que vos peço desculpa, historiando e refletindo convosco durante alguns minutos.
Em 1927, quando se iniciou pelos dois continentes a comemoração que hoje celebrais, disse Einstein no escrito sobre A Mecânica de Newton e sua Influência na Física Teórica que se impunham “a recordação e meditação desse espírito luminoso, que, como nenhum outro, antes e depois, marcou novas vias ao pensamento, à investigação e à prática técnica do Ocidente”, e a quem “o destino colocou numa viragem da evolução espiritual”. Se me permitis, será a reflexão breve sobre a natureza desta viragem, assinalada pelo engenho de quem nos nossos dias não sei se corrigiu, se deixou intacta, a construção newtoniana, porque é a vós que cumpre o julgamento, que constituirá o tema da minha colaboração à vossa festa. É, pois, numa mutação do espírito que me situo e para fixar o alcance desta mutação devo delinear com traços rapidíssimos o transe do ideal da ciência no último quartel do século XVI. Que sais-je?, perguntava por então Montaigne, e nesta pergunta ressoa o fragor das ruínas das conceções científicas medievais e uma espécie de alacridade receosa e surpresa pelas admiráveis revelações da Antiguidade, pelas inauditas inovações nas ciências da natureza e pelas estupendas descobertas geográficas, a nossa suprema mensagem coletiva ao património da Humanidade. A um tempo, o século das grandes revoltas dilatara o conhecimento empírico da terra e do homem, mas estes conhecimentos, longe de apaziguarem a mente, transmudaram-se numa problemática inquietante e incitadora, quando o nosso planeta foi apeado da dignidade que a crença e a perceção visual lhe atribuíram para se degradar num satélite e se perdeu a robusta e senhoril confiança com que o homem medievo penetrava no mundo. A pergunta de Montaigne, que na essência denuncia a probabilidade de todas as opiniões, reduzindo o valor da ciência ao valor do homem que a utiliza, teve no português Francisco Sanches uma resposta resoluta, e essa resposta é de um ceticismo singular. No seu livro, cujo título — Quod nihil scitur — é um manifesto, Sanches negava a possibilidade de uma ciência perfeita e completa, por várias razões, das quais destacarei apenas aquela que nos vai abrir a via da modernidade científica. Dizia o arguto filósofo que se se concebessem as coisas logicamente conexas entre si, isto é, formando uma hierarquia de géneros e espécies, o conhecimento de uma implicaria o conhecimento total, o que se lhe afigurava inacessível. Como haveis reconhecido, Sanches vulnerava diretamente o ideal aristotélico-escolástico da ciência, o qual, transportando a mente para o universal abstrato, em vez de prescrever ao sábio que observasse, experimentasse e medisse, lhe aconselhava que definisse e classificasse por géneros e espécies toda a realidade. Qualquer que fosse a incidência e a forma da atividade científica, chamasse-se definição, divisão, classificação, juízo ou raciocínio, sempre esta atividade se resolvia no inquérito da compreensão ou extensão dos conceitos, considerados como objeto da ciência.
Foi este ideal de ciência, contemplativo e inerte, o qual encontrou na lógica da Aristóteles um instrumento admirável de análise, que Sanches criticou. Em rigor, penso que se lhe não pode chamar um cético, pois a sua formação naturalista, de médico da Renascença, advertia-o de que “a experiência do contato com as coisas” abria o caminho dos conhecimentos parcialmente exatos. Se acaso pensou numa teoria da experiência, como tudo faz supor, o certo é que nada nos legou de positivo, e se invoco este facto, assim como os aludidos, à maneira de introdução, é para vos atrair, Senhores, para aquele incomparável instante em que o europeu culto do final do século XVI sentiu e pensou a necessidade vital de um novo ideal da ciência, de uma nova metódica, de uma nova problemática e de uma nova equação da mente com a realidade. Como no tempo de Sócrates, mas numa tensão de espírito diversamente orientada, a razão uma vez mais ultrapassou aquele estilo de pensamento que conduzira à fragilidade de todas as conceções, e a via que lhe permitiu debelar a crise, todos o sabeis, foi o método. O método, ou por outras palavras, a restauração da confiança na marcha da razão, tomou então o semblante de um afã vital, tão imperativo que o homem procurou não só saber, mas estar certo de que não errava. Por isso, Senhores, no século XVII, durante o qual os sábios foram por vezes filósofos e os filósofos sempre grandes sábios, perante a ruma do saber tradicional e do quebranto da direção de espírito que ele impunha, sábios e filósofos se lançam na magna empresa de desvendar o mundo, que se volvera tão problemático e virginal como nos dias longínquos em que o Heleno pela primeira vez pôs em crise a representação ingénua do homem confiante nos sentidos.
Numa comparação famosa, disse Newton que se encontrara como a criança que brinca com conchas à beira-mar, quer dizer, diante de si a vastidão indefinida e ignota e nas suas mãos o recurso inútil de uns brinquedos. Como abordar essa vastidão e operar a ofensiva contra o ignorado e o duvidoso? A eterna pergunta, não formulada apenas por Newton porque é congénita à atividade científica pura, de todos os tempos e lugares, teve no século XVII, que é o século do Génio na qualificação de Whitehead, uma resposta em cuja estrutura se nos depara um novo ideal da ciência.
E com efeito, Senhores, há uma oposição polar entre o ideal aristotélico-escolástico da ciência e o ideal da ciência no século XVII. A eliminação do diverso e a redução à identidade foram e serão o alvo da explicação científica; simplesmente o alvo pode ser variamente colocado e é na singularidade da sua posição no século XVII que reside a oposição entre os dois ideais científicos. Só o universal é objecto da ciência; dissera, após Sócrates, Aristóteles. A ciência moderna não repudiou este objeto; porém transmudou-o profundamente, substituindo a determinação de tipos ou essências genéricas pela relação constante que os fenômenos mantêm entre si.


 História da Ciência[O ideal moderno da ciência] Pedro NunesNewton e o ideal da ciência moderna Jacob de Castro Sarmento et l'introduction (...)João Jacinto de Magalhães Ver índice completo
História da Ciência[O ideal moderno da ciência] Pedro NunesNewton e o ideal da ciência moderna Jacob de Castro Sarmento et l'introduction (...)João Jacinto de Magalhães Ver índice completo