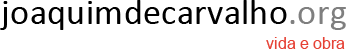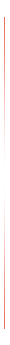Stockler justificou-se com profusão de folhetos; jazeu, porém, na prisão até à Vila-Francada, que o amnistiou, condecorou com o título de barão da Vila da Praia e reintegrou no governo e capitania-geral dos Açores.
Em Angola, Moçambique e na Índia a Revolução não esbarrou, como na Terceira, com a resistência tenaz; em todas estas paragens a mudança operou-se por processos idênticos, embora com incidentes diversos, os quais foram particularmente turbulentos em Moçambique: a deposição dos governadores e sua substituição por juntas governativas. Na Índia e em Moçambique as juntas não acataram inteiramente os novos governadores nomeados pelo poder central, respetivamente D. Manuel da Câmara e João Manuel da Silva, os quais tiveram de partilhar com elas a autoridade suprema, assumindo a respetiva presidência.
Em parte alguma, porém, a repercussão dos acontecimentos assumiu tão grave importância como no Brasil. Era no Rio que residia o rei, e da sua atitude dependiam, em grande parte, a marcha pacífica ou turbulenta da «regeneração», o exercício normal das Cortes ou o delírio de uma convenção antidinástica, senão republicana; numa palavra, a salvaguarda dos mais profundos e estáveis interesses da nacionalidade, nesta viragem do antigo regime para o constitucionalismo contemporâneo.
As primeiras notícias da Revolução chegaram ao Brasil em 17 de Outubro, pelo bergantim mercante Providência. O conselho de ministros foi imediatamente convocado, e, como quase sempre ocorre em circunstâncias idênticas, surgiram duas políticas opostas: a da oposição intransigente e repressiva, e a da moderação conciliatória.
Tomás António de Vila Nova Portugal, ministro do Reino, defendeu a primeira; pelo contrário, o conde dos Arcos, ministro da Marinha, propôs a contemporização, porque se lhe afigurava que o movimento tinha raízes na opinião pública e era, portanto, necessário transigir, indo ao seu encontro.
D. João VI não seguiu exclusivamente nenhuma destas opiniões; conciliou-as, resolvendo que se ratificasse a convocação das Cortes segundo os Três Estados, que a Regência havia feito, embora se lhe estranhasse o ter exorbitado as suas atribuições, e que o príncipe D. Pedro regressasse a Portugal para assumir a regência do Reino. Como é óbvio, D. João VI aceitava os factos, e não perseguia os revolucionários; mas, partindo da suposição de que o movimento do Porto alastrara apenas por alguns lugares da província do Minho, confiava ainda em Beresford e cometia à Regência a política de contemporização sem quebra da régia autoridade.
As resoluções de D. João VI chegaram a Lisboa no dia 16 de Dezembro e foram oficialmente publicadas na Gazeta de Lisboa no dia 19, isto é, numa ocasião em que, exautorada a Regência, o Continente obedecia ao Supremo Governo Provisional e em todas as comarcas se procedia à eleição dos deputados. O anacronismo das decisões reais era manifesto; longe de sustarem e fazerem retroceder a marcha da Revolução, justificaram apenas, aos olhos de todos, a necessidade urgente do regresso do monarca.
Entretanto, no dia 23 de Dezembro, desembarcava no Rio o conde de Palmela, a fim de assumir o ministério da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, para que havia sido nomeado em 1817. A Revolução colhera-o em Lisboa; a estadia na Inglaterra, a sagacidade política, o exemplo de Luís XVIII, advertiram-no logo de que urgia conciliar as tradições com a atualidade. «A minha opinião, e também o meu veemente desejo», confessou trinta anos mais tarde, ao cabo da sua longa carreira, «era que Portugal viesse a gozar de uma liberdade moderada, sob a forma de monarquia representativa, com um código constitucional outorgado pelo soberano, e não conquistado pela insurreição. Esta opinião comuniquei eu, pouco depois, confidencialmente a Frei Francisco de São Luís, quando já se achava em Lisboa o governo emanado da Revolução do Porto; e cumpre-me dizer que foi plenamente adotada por esse ilustre patriota, que assim o confirmou numa carta por ele endereçada a el-rei, a qual eu me incumbi de apresentar a S. M.».
Pensando assim, compreende-se que o conde de Palmela houvesse aconselhado a Regência a ir ao encontro da Revolução, convocando Cortes segundo os Três Estados, cuja proclamação de 1 de Setembro de 1820 ele próprio redigiu, e que ao partir para o Rio, depois da instalação do Governo Provisional em Lisboa e da expulsão de Beresford, o notável estadista seguisse na disposição de envidar esforços no sentido de se estabelecer um governo representativo em Portugal sobre bases estabelecidas pelo rei, e no qual a Coroa dirigisse e moderasse o ímpeto reformador.
Palmela manteve-se fiel a estes propósitos; ao chegar ao Rio diligenciou convencer o ministério e o monarca, no que teve o apoio do representante de Inglaterra, Mr. Thornton. O ministério, porém, não secundou os seus projetos, baseados no juízo de que os acontecimentos de Portugal não eram fortuitos ou episódicos, mas expressão da tendência geral da Europa para os governos representativos.
Ninguém o compreendia; o próprio conde dos Arcos hesitava, julgando inoportuna a concessão de uma Carta Constitucional, e Tomás António insistia no seu anacrónico plano, que na opinião de Palmela, «parecia concebido a dez mil léguas de distância do teatro dos acontecimentos e trezentos anos atrás da época presente». Consistia o plano do valido do monarca em se prometer o regresso de D. João VI ou de algum membro da família real quando se restabelecesse a ordem em Portugal, em se dissolverem as Cortes e anularem as respetivas deliberações, devendo convocar-se novas Cortes, meramente consultivas, segundo os antigos usos, e, finalmente, aceitando-se a demissão da anterior Regência, nomear um governo presidido por D. Francisco de Lemos, bispo de Coimbra e reitor da Universidade — de idade provecta, quase centenário —, e constituído por alguns desembargadores.
Entre pareceres opostos, D. João VI hesitava. De índole vacilante, a lúgubre evocação da Revolução francesa entorpecia-lhe o fraco ânimo com sinistras apreensões; tergiversava, e adiava o momento de se decidir, confiando ao tempo o que devia ser obra da vontade resoluta e da sagacidade política.
Entretanto o movimento liberal alastra-se pelo Brasil.
No Pará, aonde a notícia da Revolução portuense chegara no 1.0 de Dezembro, a tropa proclama a adesão à nova ordem política no dia de Ano Novo (1821) e nomeia um governo provisório; e na Baía, com efusão de sangue, procede-se da mesma forma.
Parecia a resposta à hesitação do rei; e com efeito, o conde de Palmela, «com dor de coração e com lágrimas de raiva», oficiou imediatamente ao soberano em 17 de Fevereiro, advertindo-o dos inconvenientes que resultavam do adiamento da crise e de se não ter seguido o seu parecer. Insistia, por isso, mais uma vez, na necessidade de o monarca conceder uma nova Carta Constitucional «sem esperar que [os povos] lhe ditassem revolucionariamente a lei», cujas bases deveriam ser outorgadas sem demora e aplicadas também pelo Brasil.
D. João VI convocou de novo o conselho de ministros; uma vez mais se opuseram o absolutismo de Tomás António e o liberalismo moderado de Palmela, cujas opiniões, aliás, parece terem triunfado. D. João VI, no entanto, continuava vacilante, talvez porque acrescessem às anteriores hesitações a prevenção do príncipe D. Pedro contra as Cortes de Lisboa e o seu propósito de não partir para Portugal antes do nascimento do infante, que veio a chamar-se D. João.