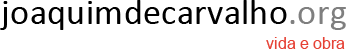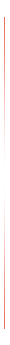As eleições de deputados às Cortes gerais ou Constituintes terminaram no dia de Natal de 1820.
Em todo o país os três atos eleitorais decorreram tranquilamente, e embora se abstivessem «os corcundas e empenados», que assim se designou logo a oposição, foi grande a concorrência do eleitorado, o qual nalgumas assembleias citadinas se manifestou com regozijo.
Das urnas saiu honrada e luzida representação.
Havia fidalgos, sobretudo da província, bispos, eclesiásticos regulares e seculares, académicos, professores da Universidade, militares, magistrados, advogados, funcionários públicos, proprietários, escritores, médicos, comerciantes, numa palavra, representantes de todas as classes liberais; só o povo do campo e dos mesteres não tinha representação.
As representações mais numerosas provinham da Igreja e dos Tribunais, isto é, de duas colunas da ordem social, abaladas, como todo o edifício do velho regime, pelo estremecimento profundo do anelo de nova ordem política.
O país inteiro conhecia de nome a maioria dos deputados; alguns, encanecidos na idade, nos serviços à pátria, no culto da ciência, eram dignos da pena de Plutarco; e quase todos, honrados, escrupulosos, patriotas, possuíam as grandes virtudes burguesas da decência, da dignidade grave, da honorabilidade perfeita.
Sobre as eleições pesara o mandato imperativo, legado da martinhada, de as futuras Cortes não elaborarem uma Constituição menos liberal que a de Cádiz; das urnas, contudo, saíram correntes ideológicas diversas, e se é certo que os doutrinários, com posição marcada à esquerda, como hoje diríamos, obtiveram maioria, os conservadores alcançaram também representação, e tanto uns como outros — conservadores, moderados do centro ou radicais — por igual depositavam crédula confiança nas virtudes mágicas de uma Constituição.
Do seu estatuto todos fiavam «a regeneração» de Portugal, e nenhum reprimiu o fervor patriótico, por demais exaltado pela grandeza da obra a realizar, pelas ameaças da intervenção estrangeira e pelos horrores da guerra civil.
Como escreveu Latino Coelho, em O Visconde de Almeida Garrett, «os liberais de 1820 tinham toda a ciência especulativa dos revolucionários sem o arrojo prático das grandes reformas públicas. Eram por assim dizer uns demagogos académicos, que faziam da revolução um tema de disputações e um certame de dialética. Ninguém mais do que eles sabia todos os antecedentes da grande revolução francesa. Não lhes eram recônditos os tesouros de toda a boa erudição democrática, nem lhes faltaram nunca as comparações campanudas da democracia antiga, nem os símiles oratórios da revolução de França. Tinham de cor os eloquentes desvarios de Rousseau, e sabiam parafrasear a um tempo um trecho apropriado de Choix de Rapports [e dos Diarios de sesiones das Cortes de Cádiz, acrescentamos nós]. Faziam da liberdade um hino, e da revolução um circo aparatoso. A par dos mais inspirados improvisos sobre a soberania popular, ouriçavam-se-lhes de terror santo as cabeleiras apolvilhadas ao menor tentame de verdadeira emancipação popular.
«Naquela revolução não se pode dizer que houvesse entrado o povo em toda a majestade dos seus brios, em todo o esplendor da sua omnipotência. Eram em grande parte as classes privilegiadas as que recrutavam no seu seio os primeiros campeões da cruzada liberal.
«Os fidalgos provincianos, que haviam levado a abnegação ao extremo de se constituírem patronos e fautores da liberdade, faziam os mais patrióticos idílios sobre a igualdade, salva sempre a generosidade da sua prosápia, e a pureza dos seus escudos e brasões; mas entibiava-se-lhes a consciência ao menor assomo de reformação na propriedade, e à menor indicação de nivelamento nos proventos e nos encargos sociais.
«O desembargador, ao revés do que eram e são ainda todos os jurisconsultos, os esteios do despotismo e os apóstolos da ordem materialista, achava na jurisprudência razões e argumentos favoráveis à liberdade, e punha as pandectas de sentinela ao capitólio da pátria regenerada; mas julgaria infamada a majestade da toga judiciária, se alguém ousasse meter ordem no caos da lei civil, e na oligarquia infrene da velha magistratura. O militar oferecia a sua espada e o seu braço para a defensão da liberdade, mas, dócil a todas as reformas, e censor de todos os abusos, estremecia com a só ideia de alterar num ápice a aristocracia das armas, e o carácter Patriciano da profissão guerreira. Cada um cedia nas aras da pátria os privilégios das outras classes, mas perseverava obstinado na conservação das suas próprias prerrogativas. Havia só um ponto em que todos acordavam. Era a liberdade. Ora a liberdade não podia ser uma abstração. Para ser verdadeira, é mister que seja a síntese de todas as liberdades, e a harmonia racional de todas as franquias cidadãs. Em 1820 a Constituição mais democrática nas fórmulas e nos dizeres coexistiu com a tradição viva e estável da monarquia que se julgava derrocar. Se um marquês, inflado da preeminência da sua raça, opulento de tributos senhoriais e de vastas possessões hereditárias, adorna, em dia de comoção e de passageiro domínio popular, o seu chapéu agaloado com o laço republicano, só os simples poderão acreditar que um dixe insignificante terá força de anular as tradições de muitos séculos e de retemperar o orgulhoso patrício no batismo democrático. Pois foi o que em 1820 aconteceu à monarquia em Portugal. Trouxeram-na em todo o fulgor das suas pompas, na sede curul, a estanciar um momento no foro. Por sobre a dalmática real, deslumbrante de brocados e de pedrarias, lançaram-lhe a túnica plebeia. O cetro enramaram-lho de carvalho cívico; e sobre os lises da coroa suspenderam ligeiramente o barrete da democracia. Revestida a monarquia com os novos paramentos liberais, deixaram-lhe ao redor todas as instituições já condenadas. Puseram-lhe nas mãos a carta das liberdades, e deixaram-lhe ao redor o cortejo do despotismo. Era claro que a monarquia assim, aparentemente desfigurada, só podia entrar alguns dias na farsa da liberdade, enquanto ensaiava com recato a tragédia da reação.»
O admirável quadro que acabamos de reproduzir é exato no debuxo e belo na forma. Onde está o leitor equânime e desapaixonado do Diário do Soberano Congresso que não depare constantemente com o desiderato— por mil formas expresso e participado por igual de inovação temerária e da conservação reacionária, da insensatez demagógica e da compostura académica — de injetar o sangue novo e rubro de Montesquieu, de Rousseau, da Constituição francesa de 1791 e da gaditana de 1812, de Benjamin Constant e de Bentham, nas dessangradas veias da velha democracia lusitana?
Ao instaurarem o reinado da soberania nacional justificavam-se com «a restituição» de antigos direitos postergados, mas não invocaram 1385 e 1641 para sentarem um rei no trono, senão para o apearem da majestade absoluta — origem, fonte e declaração de todo o direito. D. João VI era «o mais amado dos monarcas», mas Fernandes Tomás não hesitava em afirmar, com aplauso geral, que a Revolução, ao conservar a dinastia de Bragança, significou que, «quando esta dinastia não cumprir com as condições debaixo das quais é eleita para governar, então a Nação, reassumindo seus imprescindíveis direitos, tem autoridade de a tirar do governo e pôr à testa dele quem lhe parecer. «Estes são os nossos princípios e foram os dos nossos maiores». Juram e protestam sinceramente fidelidade à Religião Católica Apostólica Romana, mas abundam as opiniões e não escasseiam as leis nas quais se sente pulsar o racionalismo e o laicismo da filosofia do século XVIII.