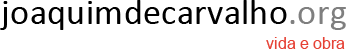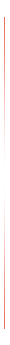Por isso se decidiu que a discussão do projeto não sofresse interrupções; iniciada em 12 de Fevereiro, concluiu em 8 de Março, e em 13 deste mês era publicado no Diário da Regência.
Levar-nos-ia longe a narração das vinte e uma sessões, algumas das quais memoráveis, em que se firmaram os princípios orgânicos do novo Estado; baste-nos apenas a referência a certos temas capitais.
O projeto dividia-se em duas partes; a primeira, sobre os direitos individuais do cidadão, a segunda, sobre a organização do Estado.
Foi Pereira do Carmo quem iniciou a discussão com a leitura de um famoso discurso, tendente a demonstrar que o projeto assentava no antigo direito público português, e os seus tópicos capitais, em velhas leis abolidas pelo absolutismo.
O projeto era, pois, tradicionalista, e não revolucionário, e que o fosse, «toda a Nação que perde a ocasião de se resgatar merece perpetuamente ser escrava».
A discussão prosseguiu depois sobre o sentido da palavra liberdade, mas foram os artigos relativos à prisão sem culpa formada e à liberdade de pensamento que deram ensejo a afirmações dignas de nota.
Sustentou Borges Carneiro a necessidade de se classificarem os crimes em que, restritamente, a prisão dependesse só da culpa formada, para o que bastaria adotar-se o que sobre o assunto a Constituição de Cádiz estabelecia. Fernandes Tomás respondeu-lhe; e a resposta, se não é famosa juridicamente, foi-o politicamente, porque representou a primeira afirmação pública, depois da martinhada, contra a subordinação àquele código político: «não é necessário», disse, «designar ou especificar esses casos; nem por estar na Constituição espanhola essa especificação constitui artigo de fé. Tais classificações pertencem ao código judicial. A Constituição espanhola não é um evangelho. Eu sou português e estou aqui para fazer uma Constituição portuguesa e não espanhola».
Se esta desassombrada afirmação é digna de nota, muito mais o é a discussão do artigo relativo à livre manifestação do pensamento.
Os conservadores sofriam com irritação as campanhas pessoais e doutrinárias da imprensa política e a Igreja sentia que as traduções de escritos heréticos, ou pelo menos críticos, lhe minavam a autoridade.
A revolução soltara as mais atrevidas opiniões; não se ouvia, por exemplo, no Congresso, Borges Carneiro fazer a distinção do dogma e da disciplina, para demonstrar que esta era sujeita à crítica, e o deputado Ferrão propor que se abrissem as fronteiras aos descendentes dos judeus portugueses, e de modo geral a todos os que quisessem acolher-se à protecção do governo português?
Por isso o artigo sofreu acalorada discussão; com os panegiristas da liberdade defrontaram-se os defensores da censura prévia. Enquanto o cónego Castelo Branco defendia a liberdade com o fundamento de que no pensamento também se dava o direito de propriedade e que nada podia temer a religião sempre que os sacerdotes acompanhassem a palavra divina com atos de estrita moral e sã virtude, pelo contrário, o bispo de Beja advogava a necessidade da censura prévia dos escritos religiosos ou relativos à moral, e em seu socorro Trigoso de Aragão Morato sustentava que se a Igreja não tinha autoridade para proibir, a tinha para censurar, e que ao bem do Estado a censura era conveniente.
Uns, como Anes, queriam uma censura parcial e só para os escritos religiosos, outros, como António Pereira, propunham o estabelecimento de uma censura responsável pelos seus abusos, criando-se um tribunal de deputados que fosse como que a censura da censura prévia.
Quando chegou o momento da votação, trinta e dois deputados mantiveram-se fiéis ao princípio da censura prévia dos escritos relativos à religião, e oito ao da censura das outras obras, mas a maioria pronunciou-se pela liberdade, contanto que se respondesse pelo abuso dela nos casos e na forma da futura lei de imprensa que as Cortes elaborassem.
Ao contrário dos ulteriores parlamentos, os constituintes do Soberano Congresso não se agruparam em partidos; porém é óbvio que a discussão que acabamos de resumir os dividiu ideologicamente. O comando, no entanto, coube à corrente radical.
O radicalismo acentuou-se, e profundamente, com a discussão da segunda parte do projeto das bases, relativo à Nação portuguesa, sua religião, governo e dinastia. A declaração teórica de princípios vinham juntar-se os fundamentos da nova orgânica do Estado, temas graves que em todos os tempos pusera face a face moderados e radicais. O primeiro embate surgiu a propósito da religião e do conceito de soberania nacional.
Pretendiam os moderados que as bases, e que consequentemente a futura Constituição, reconhecessem a religião católica como religião única dos portugueses. Era o problema da liberdade de cultos que estava em causa, e embora as Cortes se não pronunciassem sobre ela, o que fizeram mais tarde admitindo-a para os estrangeiros, pela primeira vez, no parlamento nacional, uma voz se ergueu, a do deputado Ferrão, em defesa dos judeus expulsos de Portugal, propondo que aos seus descendentes, e a outros que o desejassem, se abrissem as fronteiras da Pátria e se lhes conferissem os velhos privilégios concedidos pelos reis. Os moderados foram vencidos, conseguindo apenas que lhes fosse admitido o protesto contra a decisão da maioria; porém a discussão imediata, na sessão de 21 de Fevereiro, sobre a extensão do conceito de soberania nacional deu-lhes em parte o triunfo. A comissão das bases propusera, no artigo 18.°do projeto, que «A soberania reside em a Nação. Esta é livre e independente, e não pode ser património de ninguém». Na concisão imperativa, o artigo era profundamente revolucionário, da sua votação dependendo, em grande parte, a nova construção política e o gravíssimo problema das relações do rei com as Cortes.
Trigoso, leader dos moderados, defendeu brilhantemente a opinião de que a soberania reside originariamente na Nação, «quer dizer que é livre a todos os povos ajuntarem-se em sociedade, escolherem a forma de governo e delegarem numa ou em mais pessoas o exercício da soberania; mas, feita esta delegação, perde a Nação a soberania atual e conserva somente a radical ou habitual, a qual exercita quando lhe é necessário».
Moura julgou especiosa a distinção, que em última análise vinculava as Cortes ao poder real; e Castelo Branco, indo mais longe, não hesitou em afirmar «que a Nação soberana não nomeava o soberano, que escolhia um homem encarregado da execução das leis, e que o chamar rei ao primeiro magistrado da Nação era questão de palavras».
No entanto, embora os moderados não conseguissem introduzir no primeiro período do artigo, a seguir à palavra reside, o advérbio originariamente, lograram que os radicais admitissem a inserção do essencialmente. Assim, ficaram as Cortes vinculadas à doutrina de que «a soberania reside essencialmente em a Nação», o que, se representava uma atenuação do projeto, envolvia em todo o caso consequências inovadoras do mais largo alcance.
Surgiram elas pouco depois, quando as Cortes tiveram de fixar princípios acerca da existência de uma ou de duas câmaras, da recusa do veto ao rei, ou da sua atribuição com carácter absoluto os suspensivo, e finalmente da existência ou não-existência do Conselho de Estado, proposto ou nomeado pelas Cortes. Sobre todos estes assuntos recaiu votação nominal, e após prolongadas e por vezes brilhantes discussões foi decidido que houvesse uma só câmara (69 votos contra 26), que o rei não tivesse veto absoluto (78 contra 7), mas apenas suspensivo (81 contra 4), e que houvesse Conselho de Estado (42 contra 41) proposto pelas Cortes, na forma que a Constituição viesse a determinar.