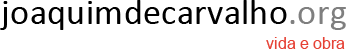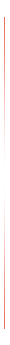A discussão do orçamento interrompeu-se, e não chegou a terminar; o mesmo acontecendo à lei da responsabilidade, ou estatuto dos funcionários, apesar da urgência proposta por Ferreira de Moura. Todo o trabalho das Cortes se frustrava; a necessidade da defesa a tudo sobrelevava.
Até àquela sessão de 27 de Fevereiro ainda as Cortes puderam votar algumas leis, dentre as quais avulta o decreto de 18 de Fevereiro de 1823, que permitiu a consolidação da dívida pública, aliás de nulos resultados; porém daquele dia em diante a questão política avassalou os trabalhos e as preocupações.
Demais, aproximava-se o termo da sessão legislativa. Pelo artigo 81.° da Constituição as sessões durariam três meses, e, em casos essenciais de prorrogação, mais um. Abertas no 1.0 de Dezembro de 1822, encerraram-se ao terminar o mês de prorrogação.
Assim terminou a primeira sessão da segunda legislatura com escasso rendimento e com funestas apreensões sobre o futuro. Entretanto, a intervenção francesa em Espanha para derrogar a Constituição de Cádiz, os entendimentos de portugueses com estrangeiros contra o sistema constitucional, a virulência das campanhas dos jornais absolutistas, o desencanto da opinião, o anelo da autoridade, decidiram o governo a comunicar à deputação permanente das Cortes, em 18 de Abril de 1823, que considerava necessária a convocação extraordinária das Cortes, a fim de apreciarem vários assuntos, entre os quais a segurança e defesa pública, a divisão do território, o orçamento, o estatuto dos funcionários, a instrução pública, etc.
As Cortes reabriram em 15 de Maio; no discurso de abertura, o monarca assegurava de novo aos representantes da Nação o seu propósito «de guardar e fazer guardar a Constituição». As circunstâncias, porém, eram mais fortes que a disposição de D. João VI, sem dúvida sincera. Os deputados sentiam que não podiam confiar na Inglaterra e perdiam as esperanças do exército espanhol resistir à avançada libertícia das tropas do duque de Angoulême; e, se olhavam para o país, notavam que a força pública além de diminuta, estava descontente e indisciplinada, e reconheciam as tremendas dificuldades financeiras e morais de se proceder a rápido recrutamento. Demais, era necessário, na grave emergência, que o poder executivo fosse forte e tivesse desembaraço; mas a Constituição, subordinando-o a simples chancela das Cortes, entorpecia-lhe os movimentos, e o Parlamento, cuja maioria tinha a gostosa capacidade de entoar hinos ao sistema constitucional, desconfiava do poder executivo e era incapaz de se entender sobre a liberdade e a melhor maneira de a defender e consolidar.
O resultado viu-se. Ao deflagrar o movimento contrarrevolucionário de Vila Franca, a comissão parlamentar de defesa e segurança pública foi de parecer, no próprio dia do pronunciamento, 27 de Maio, que se declarasse a Pátria em perigo, se substituísse o ministério e se encarregasse o general Sepúlveda de manter a segurança da capital.
O debate foi animado e a atitude de alguns deputados digníssima; mas, naquela hora em que tudo aconselhava o fortalecimento do poder executivo, enfraqueciam-no, valorizando Sepúlveda, acerca de cujo lealismo corriam boatos suspeitos, pouco depois confirmados, e abrindo a crise ministerial, declarada aliás pelo pedido coletivo de demissão, que o rei aceitou. O novo ministério, organizado no dia 28, ficou constituído por A.J. Braamcamp do Sobral (Estrangeiros), José António Guerreiro (Justiça), Mouzinho da Silveira (Fazenda), Faria de Carvalho (Reino), Neves Costa (Guerra) e D. Manuel João Locio (Marinha).
A sessão de 30 de Maio abriu com lúgubres apreensões. O presidente propôs a lei dos contadores para a ordem do dia, mas Pereira do Carmo, erguendo-se, declara, entre os apoiados e vivas dos deputados e do povo das galerias, que «a ordem do dia é salvar a Pátria ou acabar com honra, vítima de uma causa imortal; nós o devemos a nós mesmos, à grande Nação de que somos representantes, à Europa, que tem os olhos fitos na península das Espanhas, e à posteridade».
O eloquente discurso daquele «atribulado espírito» rematou com três propostas, vivamente aplaudidas, de ingénua candura: solicitar do ministério a informação do estado da segurança pública; proclamar à Nação a narrativa fiel dos acontecimentos e o propósito das Cortes sustentarem até à extremidade a Constituição, e declarar a sessão permanente.
A despeito da força que acampara em Vila Franca, da atitude maquiavélica da minoria e das hesitações do centro neutral, a maioria confiava ainda no poder mágico das grandes palavras, que dois anos atrás congregavam a multidão e incitavam os gestos que esculpiam «a regeneração da Pátria». Por isso, quando o abade de Medrões, deputado famoso que vinha da Constituinte, teve a audácia, momentos depois, de ler uma proposta para que se convidassem as Câmaras municipais a darem parecer sobre a forma de governo que os povos queriam, desencadeou-se a tempestade. Semanas antes, a proposta — admitindo que as Cortes a votassem — talvez conjurasse a Vila-Francada; mas a esta hora era o plebiscito no fragor da guerra civil, e, sobretudo, a confissão pública dos desvarios do novo sistema representativo. Votá-la, seria o suicídio. O abade de Medrões não concluiu a leitura da sua indicação, como então se dizia na incipiente linguagem parlamentar; a maioria não só a rejeitou, mal lhe apreendeu o teor, senão que aproveitou o incidente para vindicar a defesa da Constituição e anunciar pela boca dos mais ardidos que preferia a morte ao perjúrio. Sessão memorável pelo romantismo político e pelo brio do carácter, na qual Teixeira Girão protestou «defender a Constituição até à última gota do seu sangue»; Fonseca Rangel, «se o poder da tirania» o arrancasse daquele recinto, «nos degraus do patíbulo, no meio das fogueiras, expiraria clamando: Constituição, liberdade ou morte»; o padre Anes de Carvalho, «como um digno representante da briosa Nação portuguesa, no momento que baixe à sepultura serão minhas últimas palavras: Constituição sem alterações ou modificações»; e Borges Carneiro preferia «acabar os dias entre os argelinos do que entre perjuros e déspotas».
O calor destas declarações não derretera o gelo apático da opinião nem amolecera as decisões dos chefes da contrarrevolução. Entre estes e as Cortes havia já um abismo, que nenhuma ponte podia transpor: um dos adversários tinha de ser vencido. Na segunda parte da mesma sessão matutina de 30 de Maio o ministro da Guerra fez o relatório da situação. Era crítica. Para Vila Franca haviam desertado 2760 soldados; o general Sepúlveda, traindo o juramento e o passado de «regenerador», bandeara-se, assim como o conde da Cunha, com um corpo de milícias; fiéis, permaneciam apenas o rei, o regimento n.° 18, as guardas nacionais, corpo improvisado de voluntários, que mantinham o sossego da capital, o corpo de milícias de Torres Vedras, e quanto às forças da província expediram participações aos respetivos generais. As Cortes votaram então a sessão permanente, e Barreto Feio, propôs que «em tão desesperadas circunstâncias, pois que a arma que nos resta é a língua, e não temos outro apoio senão o coração dos fiéis portugueses, as guardas nacionais..., e os corpos de segunda linha..., devemos proclamar a esses rebeldes, mostrando-lhes a enormidade do seu crime e convidando-os a depor as armas parricidas; lancemos mão deste último recurso, e quando não as queiram depor, neste augusto recinto os esperaremos a pé firme com aquela dignidade que convém aos representantes de um povo livre, lhes ofereceremos inerme o peito e morreremos com a liberdade da Pátria».