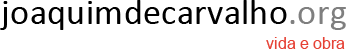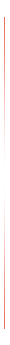«Também tu, ó Portugal, não escapaste da universal calamidade... A tua felicidade acabou com as tuas Cortes: a Assembleia augusta, que glorificava os reinados dos teus reis, foi substituída por toda a casta de egoístas, inimigos do bem público. As Cortes, em que desde o princípio se faziam Leis; em que somente se podiam criar tributos; em que se impunham ao Senhor D. João I condições essenciais ao bom regime do Reino; em que com respeitosa liberdade se faziam ao Senhor D. Afonso IV advertências oportunas, estas Cortes, digo, se tornaram inteiramente suplicantes; foram somente convocadas quando assim aprouve aos cortesãos; não se deram respostas às suas petições, ou somente respostas indecisas; outras se lhes deram somente depois de passados seis anos. Criou-se depois a Junta dos Três Estados, vão simulacro da primeira representação nacional, e para que desta se apagasse até a recordação, se extinguiu enfim aquela mesma Junta.
«Triunfaram então por toda a parte os validos, gente viciosa e ignorante, interessados defensores do poder despótico. Fizeram-se leis por motivos particulares, e revogaram-se logo que estes se tinham preenchido; cada corporação do Estado obteve para si as que melhor lhe convinham, sem preceder discussão, nem se guardar o nexo, que deve ligar todos os membros de um só corpo; mudaram-se e alteraram-se com mais leveza do que se renovaram os trajos, as modas e as danças; umas foram públicas, outras ocultas e inéditas, contrariadas aquelas por estoutras.
«Houveram, pois, milhões de Leis, e contudo não houve Legislação; houve um caos, que induziu no Foro judicial e nos outros ramos da Administração pública uma arbitrariedade absoluta. Cada ministro de Estado foi um Rei: tocados do pruído de fazer Leis novas e de revogar as antigas, exercitaram este poder por símplices Avisos ou Portarias suas, a que os nossos antigos costumes proibiam dar cumprimento. Um deles que estivesse vendido a uma nação estrangeira, ou tivesse uma imaginação efervescente, podia por si só formar tratados; impor ao povo mais de vinte contribuições; promulgar loucos projetos de economia política mui mal traduzidos de autores franceses, e com um só rasgo de pena destruir todo o comércio e indústria portuguesa.»
Tal era para a geração responsável pela Revolução de 1820 a situação moral do país. As palavras, escreveu-as o jurisconsulto Manuel Borges Carneiro no livrinho Portugal Regenerado em 1820; porém o espírito e as ideias não lhe pertencem, porque foram o viático da nova consciência política e o critério à luz do qual se considerou a história pátria.
Em 1820 não se derramou uma gota de sangue, e no entanto em raros momentos como este foi tão veemente em Portugal a inquietude revolucionária. É que a revolução não é a violência. Os dois conceitos não são correlativos, e o tumulto e a barricada só merecem a atenção do historiador, ultrapassando o registo policial, quando traduzem sem equívoco ideias e sentimentos, dos quais flua uma nova visão do Homem, da Sociedade e do Estado. Espiritualmente, 1820 marca a viragem do século XVIII para o século XIX. É um termo e um início — dois momentos que podem intelectualmente isolar-se, um acentuando a dissolução moral do antigo regime, outro conduzindo-nos para uma alvorada.
O grande tema ideológico e sentimental em 1820 era o câmbio do súbdito pelo cidadão, a substituição dos direitos majestáticos pela soberania nacional, o desterro do édito pela lei. Para além destas mutações, que toda a Europa ocidental viveu depois da Revolução francesa, o corte com o existente surgia como um imperativo da consciência nacional. Moral, económica e politicamente, o país viva insatisfeito.
Ao clamor geral, avolumado pelo recurso recente ao papel-moeda, que desterrara pela sabida lei a boa moeda dos metais ricos, juntava-se já o protesto surdo contra a própria organização do Estado. Todos os que trabalhavam e representavam criação de riqueza, especialmente na agricultura, «estavam sujeitos às violências dos capitães-mores e coronéis de milícias, que os metiam em ferros e os remetiam manietados. Eles sofriam as condenações das câmaras, as penhoras dos almotacés, ou roubos do juiz de fora e seus meirinhos, do juiz dos órfãos e seus escrivães, do corregedor e seus oficiais, do provedor e seus caminheiros, do superintendente das alfândegas e seus guardas, dos visitadores e seus meirinhos gerais, e dos juízes privativos, ou conservadores, que em alguns países são mais temíveis que todos os outros. Denunciados, devassados, e arrasados com aposentadorias, transportes e fintas, e o que é ainda mais, culpados pelo mesmo crime em diferentes juízos, eu creio», dizia o abade de Medrões, «que os cafres da Boa-Esperança não têm leis tão bárbaras e uma justiça administrativa tão levada do diabo».
O rei ausente no Rio de Janeiro, e em Lisboa uma Regência obscura e sem autoridade e um ditador no exército: o inglês Beresford.
A opinião pública, cujo aparecimento em Portugal deve talvez datar-se da polémica suscitada pelo Verdadeiro Método de Estudar (1746), de Verney, afrancesada pela influência literária, era trabalhada pelas ideias do século e estimulada pelas reflexões e críticas do Investigador Português em Inglaterra, do Correio Brasiliense e do Campeão Português, periódicos cuja circulação a Regência proibiu. Os patriotas sofriam de ver a Metrópole reduzida à situação de colónia do Brasil, e não faltavam comentários contra o envio mensal de 50 contos para pagamento da expedição do Rio da Prata (Montevideu) — campanha cujo alcance ninguém compreendia. Por fim Beresford, «homem bravo por génio, cruel por natureza, ambicioso por profissão, sem moral e sem Deus» (Medrões), pelos constantes recrutamentos parecia querer «fazer todos os portugueses militares e ter sempre o Reino em estado de guerra, para ter serviços que alegar» (Medrões). A saída de D. João VI para o Brasil foi uma solução digna para a honra nacional: o rei de Portugal não abdicou nem se curvou humilhado perante o invasor. Fora o povo, porém, quem fizera a guerra aos franceses e sofrera todas as depredações das campanhas, e, volvidos seis anos sobre a paz geral, o país, sob a ditadura afrontosa de Beresford, sentia-se mobilizado. A Regência parecia ter um único programa; durar e defender a autoridade, sufocando todos os que, pensando ao ritmo do século, viam a caducidade da organização política e social que os rodeava. Este mal-estar económico e moral seria de per si suficiente para a revolução?
Sê-lo-ia, sim, para substituir os homens, para impor mesmo uma ou outra amputação, uma ou outra reforma; mas os patriotas, os que romanticamente se reputavam «pais da Pátria», não se contentavam com reformas — queriam a revolução. «As ideias de revolução eram gerais», diz o marquês de Fronteira. «Rapazes e velhos, frades e seculares, todos a desejavam. Uns, que conheciam a vantagem do governo representativo, queriam este governo; e todos queriam a Corte em Lisboa, porque odiavam a ideia de serem uma colónia duma colónia».
A revolução era realmente a consequência da crítica do existente. O espírito de reforma, essencialmente conciliador, tornara-se impotente pelo condicionalismo político e pela mentalidade dos governantes. Para estes, representava uma abdicação, e para os insatisfeitos uma transigência estéril. Por isso, em torno do fundamento das instituições políticas e jurídicas, se foi cristalizando uma ideologia nova, cuja tradução social, na ordenação do Estado, foi possível porque a viveram intensamente associações livres de homens, que atuaram como grupos sociais homogéneos.


 Formação da ideologia republicana (...)1. A soberania nacional 2. As liberdades públicas e as garantias (...)3. Correntes ideológicas. Henriques (...)Ver índice completo
Formação da ideologia republicana (...)1. A soberania nacional 2. As liberdades públicas e as garantias (...)3. Correntes ideológicas. Henriques (...)Ver índice completo