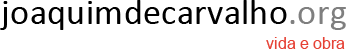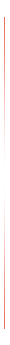Deixemos a divisão das espécies desta ideia genérica. Sigamos a sua evolução no conjunto. Para além da evidência dos factos, a soberania da nação tinha por si uma tradição ilustre de jurisconsultos. Recordemos apenas os que viveram em plena Contra-Reforma. No Assento feito em cortes pelos três Estados do Reino de Portugal, em 5 de Março de 1641, não só se afirma a soberania nacional, senão que se reivindica o direito à destituição dos reis, nestas terminantes palavras: «Porquanto, conforme às regras do Direito natural e humano, ainda que os reinos transferissem nos reis todo o seu poder e império para os governar, foi debaixo de uma tácita condição de os regerem e mandarem com justiça e sem tirania. E tanto que, no modo de governarem e usarem dela, podem os povos privá-los dos reinos em sua legítima e natural defensão; e nunca nestes casos foram vistos obrigar-se, nem o vínculo do juramento estender-se a eles».
Os jurisconsultos João Pinto Ribeiro, na Usurpação, Retenção e Restauração de Portugal, e Francisco Velasco de Gouveia, na Justa aclamação do Senhor D. João IV, desenvolveram e fundamentaram esta doutrina, que o despotismo do século XVIII momentaneamente eclipsou com a conceção do poder imediato e absoluto dos reis.
Segundo esta conceção do Estado, o governo monárquico é «aquele, em que o supremo poder reside todo inteiramente na pessoa de um só homem, o qual homem, ainda que se deve conduzir pela razão, não reconhece contudo outro superior no temporal que não seja o mesmo Deus: o qual homem deputa as pessoas, que lhe parecem mais próprias para exercitarem nos diferentes ministérios do governo; e o qual homem finalmente faz as leis, e as derroga, quando bem lhe parece» (Dedução cronológica, I parte, § 604).
Em flagrante contraste com a história e a tradição jurídica portuguesas, esta conceção era, no fundo, uma importação do estrangeiro, se se não preferir dizer, com mais rigor, que era o estilo político do século.
Mantinha-se, no entanto, de um sentimento positivo — a superioridade do rei —, e este sentimento foi possível porque a emoção política teve por cenário único os gabinetes dos secretários de Estado. Estes foram grandes, como Luís da Cunha e Pombal, mas o comum viveu Completamente à margem das inquietações dos seus governantes. O poeta Correia Garção (t 1772), embora horaciano na inspiração do tema, pelo curso das imagens denuncia a geral indiferença do seu tempo pela res publica:
Reluzindo na mesa os cristais limpos,
Nos pedem que bebamos, que brindemos:
Ora bebamos, Lídia; deixa aos Astros
O governo dos Orbes.
Não queiras triste penetrar a densa,
Caliginosa névoa do futuro:
Não percas um instante de teus dias;
Olha que o tempo voa!
O absolutismo era, na verdade, a única política compatível com este espírito de fruição do instante agradável; a partir, porém, do momento em que o homem de oitocentos se apercebeu da ilusão do instante e que os seus direitos naturais, imprescritíveis e absolutos, constituíam a realidade permanente, a construção pombalina do Estado, a despeito do ensino universitário e da coação, desmoronou-se moralmente. Ao findar do século viam-se já sinais de ruína, sobretudo pela crítica dos enciclopedistas, incitante do novo estilo político, que a Revolução francesa inaugurou.
Provam-no claramente as apologias do poder absoluto moribundo. Defendem e atacam; mas a defesa e o ataque dirigem-se a um inimigo incoercível, cuja fisionomia se adivinha um pouco por toda a parte.
Francisco Coelho de Sousa e São Paio, nas Preleções de Direito Pátrio Público e Particular (1793), reconhecia já que a conceção absolutista do Estado (doutrina do poder imediato) desagradava aos «sectários do espírito dominante da mal entendida liberdade e dos imaginários defensores dos direitos do homem», os quais lhe desprezariam as «preleções», reputando-o «fanático político e falto de senso literário». Seis anos depois, o marquês de Penalva, na Dissertação a favor da Monarquia (1799), descobre, sob a apologia do «legítimo e absoluto poder, que têm os nossos soberanos sobre seus fiéis vassalos», um verdadeiro libelo contra a ideologia da Revolução francesa e a filosofia «do século das trevas, digam o que quiserem da sua Iluminação».
O marquês de Pombal, na hora apoteótica do absolutismo, mandara executar dialeticamente as doutrinas subversivas de Velasco de Gouveia, e volvidas umas décadas a apologia impunha-se já, a despeito de a estrutura do Estado se manter intacta. Segundo o marquês de Penalva, a monarquia é o único governo que tem sistema, pois «todas as vezes que a soberania não reside em uma só pessoa, o Estado se expõe a ser dividido em substância, como o é nas opiniões dos que o administram». Este argumento, largamente repetido, constitui o núcleo da argumentação do bispo de Elvas, Azeredo Coutinho, contra a teoria do contrato social de Rousseau, «revoltoso sistema, que se diz a mais feliz produção do século XVIII, do seculo iluminado, que espalhando a luz por toda a parte tem feito ver os sagrados direitos do Homem e da sua liberdade».
O bispo de Elvas foi um espírito superior e cultivado, mas a sua pena não hesitou sustentar a opinião, inconcebível num sacerdote cristão, de que o comércio do resgate dos escravos não era «contrário ao Direito natural, à boa política e à humanidade».
Deste daltonismo moral padecia a maior parte dos dirigentes seus contemporâneos, incapazes de compreender os novos valores espirituais. Formados na ideologia e na ética do despotismo ilustrado, o mundo emergente aparecia-lhes, não apenas como anárquico, mas contraditório em si mesmo.
Argutos, encadeavam sofismas; pois que é senão, um sofisma e uma confusão entre a soberania e o soberano, a opinião do bispo de Elvas de que os governos democráticos, quando não fossem a desordem, se volviam em monarquias de facto? E perguntava, com a apreensão de quem pressente a aproximação do ciclone: Não é melhor que o sejam de direito? «É verdade que todos os governos são suscetíveis de corrupção; mas sempre com a diferença, que o monárquico, ainda no meio da sua maior corrupção, por isso que pela sua constituição todas as rédeas do governo se reúnem em uma só mão, logo que nelas pega uma mão forte, sábia e prudente, tudo entra na ordem; não assim nos governos democráticos ou aristocráticos, que uma vez caídos na corrupção, por isso que pelas suas constituições as rédeas do governo estão espalhadas pelas mãos de todos, ou de muitos, ou nunca se tiram da corrupção, ou, puxando cada um para a sua parte, mutuamente se destroem.» (Análise, p. 105).
Nestes escritos, recordados apenas como marcos de uma via próxima do termo, a refutação dirigia-se a um inimigo ainda invisível. O bispo de Elvas possui uma maleabilidade que a apologia rígida do marquês de Penalva desconhece. Sem dúvida, graças ao engenho, incomparavelmente melhor dotado que o do aristocrata, mas ressoam já nos seus escritos os passos desse invisível inimigo, que, contemporaneamente à Revolução francesa, com a discussão notável em torno do Novo Código de Direito Público de Portugal, fugaz e discretamente se havia revelado.


 Formação da ideologia republicana (...)1. A soberania nacional 2. As liberdades públicas e as garantias (...)3. Correntes ideológicas. Henriques (...)Ver índice completo
Formação da ideologia republicana (...)1. A soberania nacional 2. As liberdades públicas e as garantias (...)3. Correntes ideológicas. Henriques (...)Ver índice completo