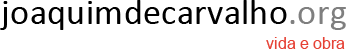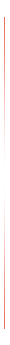Pascoal de Melo Freire (t 1798), o grande jurisconsulto, e António Ribeiro dos Santos, o grande sábio (em 1789) ergueram-se face a face, sem o ar grosseiro da polémica, como defensores, aquele, das leis do rei, este, das leis do reino. Na aparência, exercitaram um debate amavelmente académico. Só na aparência, porque lhe insufla vida e paixão o conflito de duas atitudes, o qual é hoje para nós, à distância, um índice da inquietude do tempo — ou antes da forma histórica que a antinomia da liberdade e da autoridade por então revestiu. Para o sábio, cuja mente infatigável saboreou horacianamente as delícias da mais fina erudição, acima da adesão ao rei erguia-se a majestade das leis constitucionais, sem as quais «ficaria a nação privada de seus direitos primordiais ou adquiridos... Quando uma nação chega a este estado, o que se segue pelo comum, ou é confusão e desordem... ou uma servidão e abatimento total, em que os antigos costumes se enfraquecem e desfiguram, em que se extingue o espírito e carácter nacional, e em que se estanca a nascente de todas as virtudes públicas, e se perde a força e energias das ações varonis e patrióticas». A estas nobilíssimas reflexões, justificadas pela razão e pelas calamitosas realidades da história, o jurisconsulto opunha a ordem, recordando haver princípios «cuja lembrança só é capaz de abalar o trono de nossos reis, pelos seus fundamentos; e principalmente neste século, em que a mania geral é a liberdade dos povos».
O paladino do poder absoluto não convencera nem refutara o arauto da monarquia constitucional, e o que se lhe afigurava «mania» era, poucos anos depois, postulado evidente e irresistível da conceção do Estado.
Por isso, 1820 tem o encanto da convivência afetiva. Não o mancha o sangue, nem a violência o descompõe. A revolução dos espíritos, a suprema, a única revolução, estava feita. Respeitavam-se os Estatutos pombalinos, e nas cátedras ensinava-se ainda a doutrina do poder imediato dos reis, mas «quantas vezes um riso sardónico desmanchou nas cadeiras, o que se estampara nos livros, ou nos Estatutos «!. «Ao raiar o infaustíssimo dia 24 de Agosto de 1820», escreve na Contramina (13) o truculento demagogo Frei Fortunato de São Boaventura, professor da Universidade e erudito apreciável, «achava-se mui bem preparada a matéria combustível, e não tardou muito que a labareda subisse até as nuvens... Pelas minhas contas, que nem são exageradas, nem destituídas de grave fundamento, a hidra maçónica não tinha nesse tempo menos de mil cabeças, ou laureadas, ou quase laureadas;
e por aqui se deve explicar a quase uniforme aceitação do infernal princípio da Soberania do povo, que era a doutrina recebida pela maioria dos sábios nacionais». É um juízo de facto, digno de nota na pena de um dos mais combativos e ilustrados adversários do liberalismo incipiente.
Tudo o confirma; mas, para além da aceitação, operou-se uma transformação interna no seu conceito. A despeito das afirmações dos vintistas, a soberania nacional que proclamaram nos manifestos e na Constituição, não era a «restituição» dos direitos postergados. De comum com a doutrina dos juristas do século XVII, a soberania nacional só tinha o nome, porque a intenção e a essência eram diversas. Em primeiro lugar, não se invocava a soberania nacional, como em 1385 ou 1641, para colocar um rei no trono; pelo contrário, para o apear da majestade absoluta, de origem, fonte e declaração do direito, contra a qual não havia «mais recurso que o sofrimento», transportando-o para a dignidade relativa de primeiro magistrado, sujeito como todos à Lei votada pelos representantes da nação. Esta transformação na essência da realeza resultou de uma mutação profunda da consciência. De pessoal, a realeza tornou-se um símbolo, e consequentemente o sentimento de fidelidade ao rei, inerente à majestade pessoal, transformava-se no sentimento de lealdade e sacrifício pela Pátria. Operou-se, assim, uma verdadeira revolução sentimental, transferindo-se da ordem pessoal, o rei, para a ordem impessoal, a pátria, o centro dos sentimentos de dependência e solidariedade dos portugueses. A taça indestrutível do patriotismo recebia um licor novo, e a consciência cívica surgia com inéditas significações.
Os românticos, viris na emigração e no regresso combativo, tiveram a visão de uma nação forte, livre, consolidada, independente da realeza:
Ergui a voz contra a vergonha,
Que o nome português assim mandava.
disse Garrett; e não se viu o neologismo «patriota» volver-se no mais honroso título que podia decorar uma vida consagrada ao «bem público»?
Para além da mudança radical no conceito da realeza ou, por outras palavras, do advento de uma nova forma de patriotismo, a soberania nacional soava como um grito de oposição ao rei. Era a outra face, não já meramente sentimental, mas essencialmente racional. Opunham-se, em nome da soberania nacional e da razão, os direitos do indivíduo aos direitos do rei, e o anelo supremo, quase místico da revolução foi a elaboração de uma lei — a Constituição —, na qual se estabeleceram e limitaram os poderes do Estado em ordem «a manter a liberdade, segurança e propriedade de todos os portugueses» (artigo 1.0 da Const. de 22). A submissão ao soberano convertia-se no respeito do Poder ao Direito, e é este câmbio imenso que inicia em Portugal a organização jurídica da democracia.
No seio do Congresso surgiam correntes diversas, mas de um modo geral pode dizer-se que a consciência dos vintistas era estruturalmente democrática. Anunciaram em Portugal, pelas intenções, pelas leis e pelos atos, as ideias essenciais da democracia — soberania da nação, respeito da personalidade individual, e igualdade jurídica —, aquelas, porventura, de uma forma mais substantiva que esta, embora pela primeira vez se proclamasse em língua portuguesa ser «a lei igual para todos».
Estabelecendo a correlação entre a máxima garantia das liberdades com o mínimo do poder real, limitaram o trono, cercando-o de instituições republicanas. O rei não podia impedir as eleições de deputados e a reunião das Cortes, nem tão-pouco prorrogá-las, dissolvê-las ou protestar contra as suas decisões. Tinha apenas voto suspensivo, ouvido o Conselho de Estado, impondo-se-lhe a obrigação de, com a fórmula volte às Cortes, expor as razões da sua discordância, que as Cortes apreciariam e decidiriam afinal. Não careciam de sanção numerosas leis votadas em Cortes, e tornavam-se ainda independentes da sanção real a aprovação dos tratados, a fixação das forças de terra e mar, a autorização ao governo para contrair empréstimos, a criação e supressão de empregos públicos, etc. O rei devém um símbolo, e nada prova melhor a vivacidade dos sentimentos democráticos do que as discussões no Congresso em torno do sistema bicameral, que foi rejeitado, do veto suspensivo, da censura e liberdade de imprensa.
As Cortes Constituintes de 1821-22 representam a primeira demonstração pública de tolerância, que houve em Portugal. A sua história inunda um dos capítulos mais belos da história da consciência moral portuguesa, e como poderia ser de outra maneira, se nasciam sob o signo do liberalismo?


 Formação da ideologia republicana (...)1. A soberania nacional 2. As liberdades públicas e as garantias (...)3. Correntes ideológicas. Henriques (...)Ver índice completo
Formação da ideologia republicana (...)1. A soberania nacional 2. As liberdades públicas e as garantias (...)3. Correntes ideológicas. Henriques (...)Ver índice completo