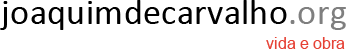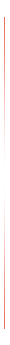O liberalismo, na sua essência profunda, é generosidade e necessidade imperiosa de convivência com o inimigo. A supressão da oposição é a sua morte, ao contrário do despotismo, cuja essência, fluindo do abandono aos instintos ou da dialética fácil de uma pretensa verdade absoluta e salvadora, carece do silêncio como condição vital. No fundo, o despotismo representa um regresso à primitividade; o liberalismo, pelo contrário, nascendo e vivendo do império da razão e do respeito da dignidade humana, é a política dos povos que atingem a civilização e dissolveram a brutalidade dos instintos na delicadeza e no sentimento do convívio. Compreende-se, assim, que todas as discussões pudessem ter tido lugar, num digno ambiente de cidadania, e não parecesse monstruosa a afirmação do sacerdote e deputado Castelo Branco: «Muito sagrada e respeitável é a religião: entretanto, é a segunda qualidade do homem: ele é cidadão antes de ser religioso».
Que importa que a Constituição de 22 tivesse sido decretada pelas Cortes «em nome da Santíssima e Indivisível Trindade?» O facto só prova a sinceridade dos sentimentos religiosos, que não clericais, da grande maioria dos deputados, e que confundiam no mesmo plano normativo a religião, a moral e o direito. Das discussões do Congresso desprende-se a conceção do Estado como instrumento de proteção de interesses e dos direitos dos cidadãos: por isso negavam-lhe fins em si. A razão de Estado, máscara odiosa do despotismo em todas as suas formas, tornava-se uma indignidade e um contrassenso político, já pelo respeito da liberdade individual, já porque os fins ideais da coletividade, superiores ao próprio Estado, confluíam na Justiça. Num elevado conceito moral dos portugueses, legislaram para homens honrados e virtuosos, e é este pressuposto que impregna de significação ética a Constituição de 1822. O deputado Girão opinava no Congresso que se devia fazer «a melhor e mais liberal Constituição que possa haver no mundo», e a Constituição encerrava o título relativo aos «Direitos e deveres individuais dos portugueses» com o 19.° Art.º. famoso: «Todos os portugueses devem ser justos». Este imperativo, ridículo para quem considere nas leis apenas o aspeto técnico, não é porventura a declaração de um princípio que conjuga no mesmo plano de universalidade a moral, o direito e a própria política?
Num momento em que na Europa dominava a Santa Aliança, essencialmente contrarrevolucionária, a política da revolução portuguesa tinha um alcance geral. Era uma réplica e um desafio, e por o ser é que os amantes da Liberdade seguiram com interesse o seu desenrolar coerente.
O filósofo inglês Jeremias Bentham, um dos guias intelectuais do vintismo, dirige às Cortes, dentre outras, uma longa epístola (5 de Junho de 1821) na qual felicita os deputados por haverem «abraçado um sistema todo despido de amor-próprio, que apenas se acha outro exemplo igual em o governo dos Estados Unidos anglo-americanos». Os franceses conde de Franclieu, Bonin, Cadet de Vaux, e o jurisconsulto americano Eduardo Lewingston, com entusiásticas saudações, ofereciam também às Cortes projetos e sugestões.
Com a iniciação na liberdade nasceu a eloquência parlamentar e a literatura política, no sentido moderno da palavra. O jornalismo transformou-se, de noticioso, em normativo, e crítico. Em período algum, como nos três anos da regeneração vintista, se traduziram e publicaram tantos livros e artigos de formação cívica. A atividade literária era a projeção da atividade social, um índice da nova sensibilidade política, e compreende-se claramente que a contrarrevolução miguelista, essencialmente negativa, a denunciasse.
«Censores Provincianos, Publícolas, Minervas, Verdades em triunfo, Dissertações contra o celibato do clero, Retratos de Vénus, Obras poéticas recitadas na Sala grande dos Atos, e filhas do próprio talento que vomitou o Çà ira e o hino dos marselheses, eis aqui as provas claríssimas do que foi a primeira enxurrada Constitucional», escrevia Frei Fortunato.
O grande tema, comentado em todas as dimensões, era a soberania nacional, e foi de facto este princípio a herança suprema de 1820.
D. João VI era «o mais amado dos monarcas», mas Fernandes Tomás não hesitava afirmar, com aplauso geral, que a Revolução, ao conservar a dinastia de Bragança, significou que, «quando esta dinastia não cumprir com as condições debaixo das quais é eleita para governar, então a nação, reassumindo seus imprescindíveis direitos, tem autoridade de a tirar do governo e pôr à testa dele quem bem lhe parecer. Estes são os nossos princípios e foram os dos nossos maiores».
A bonomia pachorrenta do rei dissolveu à nascença os vagos impulsos antidinásticos, porém as Cortes resolutamente consignaram na Constituição o princípio de que a «soberania reside essencialmente na nação», não reconhecendo a existência de um indivíduo ou corporação que exerça «autoridade pública, que se não derive da nação» (artigo 26.°). A nação, «livre e independente, não pode ser património de ninguém» (artigo 27.°), disse-se então, pela primeira vez, na lei fundamental do país, e não só se disse, senão que tecnicamente se organizou, com o estabelecimento da representação parlamentar e a divisão dos três poderes — legislativo, executivo e judicial —, independentes, de maneira «que um não poderá arrogar a si as atribuições do outro» (artigo 30.°).
Era a doutrina de Locke e de Montesquieu, da Constituição francesa de 1791 e da Constituição de Cádiz? Sem dúvida. Mas não se copiava apenas, porque a separação dos poderes brotava dos mesmos imperativos éticos e racionais que alhures. Entre nós, como em toda a parte, a totalização dos poderes no rei era o monstro que urgia decapitar. E decapitou-se; por isso, pelas instituições que comprimem o trono e pela mecânica do seu exercício, a construção política de 1822 foi estruturalmente republicana. Da monarquia conservava apenas o símbolo: a coroa.
A contrarrevolução miguelista, oriunda do conúbio do ressentimento com a demagogia, foi um parêntesis, e, pelo terror e obscurantismo da sua política, fez erguer no primeiro plano das consciências, não a reivindicação da soberania nacional, mas a emoção da liberdade e das garantias individuais.
A Carta Constitucional, outorgada em 1826 e restabelecida em 1834, não consignou o novo dogma. O espírito das duas leis fundamentais desprende-se do preâmbulo que as sanciona: D. João VI faz saber «que as Cortes Gerais extraordinárias e constituintes decretaram, e eu aceitei e jurei» a Constituição votada em 23 de Setembro de 1822; D. Pedro é «servido decretar, dar e mandar jurar... pelas três Ordens do Estado a Carta Constitucional». Aquela, era uma conquista; esta, uma concessão.
Daí, a persistência da luta pelo reconhecimento insofismável da soberania nacional e pelo desterro dos privilégios de sangue e de posição, com os quais a Carta transigia. No seu Momento, a Carta impôs-se como o ponto de convergência das forças políticas, que simultaneamente defendiam as posições conquistadas e procuravam evitar o regresso da reação «apostólica» e absolutista. Por ela se bateu e sofreu, uma das grandes gerações de Portugal, e cometeríamos uma injustiça e uma ingratidão se não nos inclinássemos com respeito perante os sacrifícios, o nobre idealismo e o espírito de civilização dessa geração gloriosa, que deu alma ao Portugal contemporâneo. À sombra da Carta decorreu mais de meio século da nossa história e se enriqueceu a vida espiritual da Nação com alguns dos seus melhores tesouros; porém, à consciência democrática, a Carta era uma graça régia e uma dissimulação da soberania.


 Formação da ideologia republicana (...)1. A soberania nacional 2. As liberdades públicas e as garantias (...)3. Correntes ideológicas. Henriques (...)Ver índice completo
Formação da ideologia republicana (...)1. A soberania nacional 2. As liberdades públicas e as garantias (...)3. Correntes ideológicas. Henriques (...)Ver índice completo