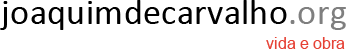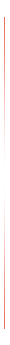29. O homem, criatura divina, é um pequenino universo, possuindo em perfeita imagem, embora diversificados, os três mundos, terrestre, celeste e espiritual. A parte inferior do corpo, sede dos membros da geração e nutrição, é semelhante à região corruptível do universo; e assim como nesta se geram da matéria primeira os quatro elementos, etc. (24) assim, no homem, do alimento, (matéria primária) resultam os quatro humores, que por seu turno formam os músculos, ossos, veias, etc.. A parte média, do diafragma à cabeça, proporcionada ao mundo celestial, contém o coração e os pulmões. O coração, imagem da oitava esfera, como os pulmões o são dos «erráticos planetas», possui, como o seu simile, um movimento constante e circular, que é o sustentáculo da vida e a causa do movimento dos pulmões e artérias. Finalmente a cabeça, simulacro do mundo espiritual, possui, segundo Platão, «não longe de Aristóteles» — a que inversões levava o sincretismo! — três graus: a alma, o entendimento e a divindade.
A alma sensitiva (no cérebro), detentora dos sentidos e movimentos voluntários, corresponde à alma do mundo —, fonte donde emana o movimento celestial e que provê a natureza do mundo inferior. O entendimento do universo, e o agente (ativo), de cuja união resulta o entendimento atual, que é «o altíssimo Deus»; princípio e fim de todas as coisas. Uma tão grande identidade justifica bem que o homem seja um mundo pequeno — microcosmos —, conjuntamente síntese e coroação do universo, que sem ele seria incompleto. Este conceito, cujas raízes mergulham em Pitágoras e Platão (Timeu) e que assimilado pelo espírito judaico deu matéria às alegorias do Talmud e fantasmagorias da cabala, bebeu-o Leão Hebreu em Maimónides ; mas apesar desta dependência formulou-o com uma exuberante riqueza de imagens que o Guia dos Perplexos não tem e adaptando-o ao sincretismo platónico da sua época imprimiu-lhe uma relativa originalidade. O que deve notar-se é que a aparente dualidade — homem-universo — é falsa. O universo é um todo íntegro, individual, e o homem, seu fecho, é o espelho onde o grande todo se reflete.
30. Corpóreo e incorpóreo, o mundo exige adequadas formas de conhecimento que penetrem a dupla constituição da sua essência. Uma e outra pode o homem atingir: aquela, pelos órgãos sensoriais, porque, na frase de Aristóteles, hoje aforismo, nada há no intelecto que não provenha dos sentidos, esta, pelo próprio intelecto, mas duplamente. Na primeira forma, o intelecto conhece diretamente, na sua essência, as coisas espirituais, porque as encontra em ato em si próprio; mas abaixo deste conhecimento, verdadeira intuição ou perceção imediata, o intelecto pode ainda surpreendê-las pelos seus efeitos, através dos dados dos sentidos. E assim é que do movimento contínuo do céu infere que o seu motor não é corpo nem virtude corpórea, mas inteligência espiritual. As formas do conhecimento são portanto duas: sensorial (cognição empírica) e intelectual (cognição intuitiva).
a) O conhecimento sensorial é feito através dos dados dos cinco sentidos, tato, gosto, olfato, audição e visão. Se todos são necessários à vida de relação e intelectual, nenhum porém tem a importância da vista, como o provam os seus órgãos, objeto, meio e ato. O olho, pela sua delicada estrutura, é o mais complexo dos órgãos sensoriais e o seu objeto abarca as duas regiões do mundo corpóreo, enquanto que os outros sentidos só atingem, imperfeita e limitadamente, um pequenino canto da realidade sublunar. O meio, isto é, o excitante, é também o mais perfeito, porque «é o iluminado pela luz celestial», e o ato, isto é, o dado sensorial, o mais nobre, porque se o tato e gosto foram criados «manifestamente» para a conservação do homem e da espécie e o olfato e ouvido para a sua comodidade, a vista apreende as coisas e espécies com tudo que as individualiza e define. A superioridade da visão, além desta maior riqueza de dados sensoriais, justifica-se ainda, e com maior rigor, pela teoria do homem-microcosmos, porque se o sol é o simulacro do entendimento divino, os olhos são a imagem do entendimento humano. A primeira impressão é a da irrealidade desta correspondência, pois se aquele ilumina mas não vê, estes, pelo contrário, veem mas não iluminam. Nada mais falso, porém, porque a Bíblia diz que o sol e as estrelas são os olhos de Deus, e o mecanismo da visão justifica também aquela harmonia. Segundo Platão, no Timeu, e já Empédocles o dissera, a visão operava-se quando dos olhos emanasse a luz que apreendesse o objeto; mas Aristóteles, mais materialista, explicava-a pela representação da «espécie» do objeto na pupila. Leão Hebreu funde estas duas condições e afirmando que o Estagirita não visou a Academia encontra a conciliação na necessidade dum terceiro requisito: os olhos, iluminando o objeto, fazem concordar a espécie impressa com a realidade exterior e «neste terceiro ato consiste a perfeita razão da vista». Sendo esta a forma perfeita da cognição sensorial, todavia dista muito da cognição ou vista intelectual.
b) Existindo na inteligência humana, na sombra, todo o universo ideal-real, a sensação, ao produzir-se, não revela em si dados novos, estimulando apenas o desferir das ideias, — assim lhes chamou Platão —, dormentes no intelecto. Há homens em quem estas ideias se atualizam facilmente; outros necessitam «da erudição» e alguns até nem com este arrimo as alcançam surpreender. Mas nuns como noutros esta visão não se operaria se o entendimento divino não iluminasse as «espécies» latentes no intelecto, se este não fosse uma irradiação daquele e não contivesse potencialmente as essências das coisas existentes. Combinando a platónica (n/a) do Ménon com a potência aristotélica, Leão Hebreu acentua nesta doutrina a unidade de todo o universo criado e o consequente paralelismo do ideal com o real, que preludia já remotamente a spinozística «ordo et connexio rerum et idearum» (Ética, II, prop. 7). Com este profundo dogmatismo, a dialética era o único método lógico, e a construção da realidade, o despertar das ideias incubadas no espírito.
c) Pode o homem conhecer a natureza divina? O entendimento humano, finito e limitado, não alcança Deus, porque o que se conhece deve compreender-se e como poderia o finito compreender o infinito? Mas apesar desta radical limitação e da impossibilidade da linguagem exprimir a pureza intelectual da divindade, o homem conhece Deus na medida das suas faculdades e não na da imensidade divina —, como o olho em cuja pupila se reflete «o grande hemisfério do céu». Espelho da realidade, o espírito atinge assim Deus, na medida da sua potência e não «segundo o pélago sem fundo da essência divina».
31. Ligada a mente aos sentidos, cujos dados recolhe e elabora, pode contudo libertar-se deles e atingir a beleza divina pelo êxtase, cuja teoria assume nos Diálogos o aspeto duma verdadeira análise psicológica, pela comparação com o sonho. Tendo de comum os efeitos — abstração, adormecimento dos sentidos, a inação e o recolhimento do espírito —, o sonho e o êxtase divergem profundamente, porque enquanto aquele beneficia «a virtude nutritiva» este intensifica «a virtude cogitativa». O recolhimento do espírito também é diverso. No sonho o espírito não se desliga inteiramente dos sentidos, mas no êxtase, reunindo todas as potências da alma, isola-se, concentra-se em si próprio e converte-se com o objeto da contemplação. Se aquele restaura o organismo, facilitando a digestão e repousando os sentidos, este consome-o, «pois a mente concentra-se na contemplação dum objeto e da virtude nutritiva pouco conserva, porque também esta está empregue na cogitação». Por isso aos contemplativos «um pequeno manjar sustenta muito tempo».
Porque se darão estes efeitos? No sonho compreendem-se, pela utilidade do organismo; mas no êxtase não se apercebem à primeira vista, porque sendo a mente incorpórea não necessita nem age para «espíritos corpóreos», como os sentidos.
A resposta pressupõe uma conceção psicológica que definindo a essência da alma explique igualmente a possibilidade do êxtase.
Inferior ao entendimento abstrato, a alma não é uniforme. Participando do mundo intelectual e corpóreo, a sua natureza é mista de essência (inteligência) espiritual e mutação corpórea, estendendo-se e animando todo o corpo; por isso, ora, pela «virtude nutritiva» sustenta o organismo, ora reconhece as coisas necessárias à vida, ora volve a si, e unindo-se então ao entendimento abstrato desampara os sentidos, consentindo apenas que o coração exerça a «virtude vital».
Sem este último apego, o corpo inanimado, desfaleceria; mas ditosa morte, porque a alma ter-se ia absorvido na contemplação. Esta suprema felicidade gozaram-na Moisés e Arão. Dizendo a Bíblia que morreram «por boca de Deus» metaforicamente significa, «segundo os sábios», que morreram beijando a divindade, isto é, contemplando a formosura divina e unindo-se-lhe tão ardentemente que a alma desamparou o corpo.
32. Leão Hebreu distingue com Aristóteles (Et. Nic., X, passim) a vida moral da contemplação, porque aceite o princípio do justo meio, a realização dos extremos vicia a conduta ética, enquanto que na vida contemplativa nunca se desmerecerá o excesso. Se na ética os extremos são viciosos, na contemplação, ou melhor, na beatitude, só o pouco é condenável. Classificando as coisas (ações) em úteis, deleitáveis e honestas, só as duas primeiras entram rigorosamente no âmbito da vida moral, porque a verdadeira honestidade realiza-se integralmente pelo amor divino, que é a suprema beatitude humana. Formulado o princípio da moral — o justo meio —, diretamente bebido na Ética a Nicómaco e indiretamente no Moreh de Maimónides, basta-nos para esclarecer o seu pensamento analisar um exemplo, não havendo na longa lista que os Diálogos oferecem nenhum tão frisante como o desejo da riqueza.
A virtude no desejo das riquezas ainda não possuídas reside na suficiência ou satisfação do necessário, isto é, o justo meio entre dois extremos igualmente viciosos: a ambição e o desprendimento (negligência). Houve filósofos, como «alguns» estoicos e académicos, que desprezaram as riquezas, não por negligência, mas porque aspirando à vida contemplativa, não queriam o estorvo desse desejo a ocupar-lhes o entendi mento. Os peripatéticos, porém, legitimavam-nas, porque, se em si não são virtuosas, servem de instrumento à virtude, condicionando a liberalidade. Não basta a disposição do ânimo; se esta última virtude é um hábito como adquiri-lo ou exercitá-lo sem bens? Opostas à primeira vista, estas opiniões, Leão Hebreu harmoniza-as, explicando-as.
Os homens «mais excelentes» vivendo a vida intelectual realizam a verdadeira felicidade, que não necessita, antes exclui, o desejo ou o amor das riquezas. Nisto concordam estoicos e peripatéticos; mas aqueles aspirando a suprema ventura não atenderam às inferiores virtudes morais, que a riqueza condiciona, e por isso os peripatéticos as estudaram. Estoicos e peripatéticos, em suma, aceitaram os mesmos princípios, mas o que uns analisaram omitiram-no os outros, por forma que as suas doutrinas reciprocamente se completam.
O amor das riquezas já possuídas é, como o desejo das cobiçadas, virtuoso no justo meio — a liberalidade —, igualmente distante dos dois vícios, a avareza e a prodigalidade. Como nota final, esclarece Leão Hebreu que as virtudes úteis e deleitosas não derivam da natureza das coisas, porque residindo o deleite nos sentidos e a utilidade nos objetos, «são alheios à espiritualidade», mas da moderação ou justo meio, que é uma virtude intelectual. Conquanto morais, estas virtudes não constituem o fim do homem, sendo apenas meios degraus para a sua consecução.
33. Qual é, porém, este fim ou, por outras palavras, onde está a felicidade e em que consiste a beatitude humana? As opiniões divergem profundamente. Não falta quem superficialmente a atribua à posse abundante dos bens da fortuna e, em geral, às coisas úteis; mas se a felicidade, ato espiritual, reside no homem, como transferi-la para coisas exteriores? Não se afastam muito daquele conceito os que, como os epicuristas, a fazem consistir «nas coisas deleitosas», sem notarem que o excessivo deleite causando a saturação e aborrecimento contrasta com o honesto prazer. A felicidade, portanto, encontra-a o homem em si próprio, e deve naturalmente procurá-la no que mais o eleva e afasta da baixa materialidade: os atos intelectuais.
Alguns «sábios» viram no integral conhecimento de todas as ciências e coisas a suprema beatitude, porque sendo o intelecto humano em potência, devém perfeito quando se atualiza, isto é, assimila e compreende todas as coisas, pela «feliz copulação do entendimento possível com o entendimento agente» (ativo). Nada mais falaz que este conceito de felicidade, porque o homem, pela brevidade da vida e diversidade de coisas do universo, jamais a poderia atingir. Demais, o Filósofo [sic] diz que «todas as ciências por um lado são fáceis de achar, por outro difíceis» isto é, fáceis em todos os homens, difíceis num só; e mesmo que se encontrassem, a felicidade não estaria no conhecimento conjunto de muitas e diversas coisas, porque, como diz ainda o mesmo Aristóteles, ela «não consiste no hábito do conhecimento, mas no seu ato». Se a felicidade não está no integral conhecimento sintético, pela sua impossibilidade, deve procurar-se num princípio que contenha em si todo o universo. O intelecto possível, sendo potência pura, não realiza esta condição; portanto só no intelecto em ato, que «contém em si todos os graus do ser, das formas e dos atos do universo, conjuntamente em ser, unidade pura e simplicidade», pode existir, tanto mais que por seu intermédio se «conhecem numa única visão e num simplicíssimo conhecimento todas as coisas do universo». O que é o entendimento em ato?
Ninguém ignora que a imprecisão e obscuridade de Aristóteles sobre o (n/a) estimulou o engenho de todos os comentadores, desde os velhos peripatéticos, suscitando variadíssimas interpretações, das quais a mais fecunda em consequências e polémicas foi a de Averroes. Conhecia Leão Hebreu estas divergências, conquanto não as individualize nem explicitamente as desenvolva. Para uns, diz, é a copulação do entendimento agente com o nosso entendimento possível, que opera esta visão espiritual e universal de todas as coisas; para outros, este efeito dá-se quando o entendimento humano pela copulação com o ativo (ou agente) devém atual, sem potência, idêntico ao próprio entendimento agente. Condensando e sistematizando este assunto, algo obscuro, vê-se que segundo Leão Hebreu há duas conceções diferentes do intelecto humano: numa este eleva-se, num desenvolvimento contínuo, do jovem ao adulto, por uma atividade intrínseca, até ao conhecimento integral da realidade; noutra essa evolução é gradual, pela ação duma atividade extrínseca. Criticada a primeira pela impossibilidade daquele conhecimento, fica a segunda; mas nesta pode ainda conceber-se a ação extrínseca numa dupla forma: ou o intelecto possível (humano) se copula com o intelecto ativo, vendo então todas as coisas em ato, subsistindo, porém, sempre em potência, ou o intelecto possível pela ação do intelecto ativo, unificando-se com este, transforma-se em atual, «sem nele haver divisão ou multiplicação».
Não critica Leão Hebreu nenhuma destas interpretações nem desenvolve como devia o seu próprio pensamento, limitando-se a reconhecer a dualidade — intelecto possível-intelecto ativo —, a admitir a sua copulação e a afirmar que o intelecto ativo que ilumina o intelecto humano é o «altíssimo Deus». Compreende-se agora que a felicidade consista no conhecimento do entendimento divino, no qual todas as coisas estão essencialmente e duma forma mais perfeita que em qualquer outro entendimento criado. Mas um novo problema surge: a felicidade está propriamente em conhecer Deus, ou em o amar? Também neste problema o nosso filósofo mostra estar ao corrente da especulação — ou melhor, fundamentação mística —, dos israelitas medievos. No misticismo vulgar é pelo amor que o homem se une a Deus, pelo coração e não pela inteligência que o místico vive Deus e nele se absorve. A inteligência, a análise, tudo o que é subjetivo e obra da razão, deve aniquilar-se para que, sem obstáculos, o coração, numa deslumbrante cegueira, ame Deus e toda a vida do corpo e do espírito em íntima conjunção se absorvam no divino. Chasdai Crescas, no juízo de Karppe, o mais original filósofo judeu antes de Spinoza e aquele cujo pensamento está na via direta do spinozismo, não longe desta atitude, surpreendeu a suprema felicidade no amor a Deus, — fim último do conhecimento. Maimónides, pelo contrário, baseava-a no próprio conhecimento, superior à vontade, porque a verdadeira atitude mística, a suprema beatitude, não está no amor, mas na meditação, na ascensão racional até ao intelecto ativo, manifestação direta da divindade. Leão Hebreu apresenta estas duas correntes do misticismo hebraico numa forma sintética, mas através da qual se adivinha uma estreita familiaridade com a obra e o espírito destes filósofos.
Para uns, diz, a beatitude está em amar Deus, porque o conhecimento é um estádio preliminar e necessário do amor, e o deleite uma ação voluntária e não intelectual. Outros, porém, encontram-na no conhecimento divino, porque o conhecimento é a mais elevada e espiritual potência do espírito; superior à vontade e donde derivam o amor a Deus e o consequente prazer. Leão Hebreu concilia e funde estas duas radicais atitudes. Para ele a beatitude não está nem no simples ato cognoscitivo de Deus, nem no amor que deste conhecimento resulta, mas «no ato copulativo da íntima e unida cognição divina, que é a suma perfeição do intelecto criado».
Não basta conhecer Deus; não basta amá-lo: é necessário amá-lo intelectualmente. A suprema beatitude humana consiste, portanto, no «amor intelectual de Deus». Quando o homem desce à baixa materialidade, amor e conhecimento são funções distintas e até, por vezes, discordes; mas quando se eleva ao intelecto puro experimenta o amor intelectual, isto é, a fusão integral do prazer com o conteúdo do conhecimento. «Nas coisas corpóreas o amor é diverso da intelecção; mas nas essências intelectuais e materiais coexistem, e o amor é intelectivo». «Ascendendo com a alma das menores às maiores belezas chegamos à cognição e amor, não só das belíssimas inteligências, almas e motoras dos corpos celestiais, mas ainda da suma beleza e desse sumo belo, dador de toda a beleza, vida, inteligência e ser; e isto poderemos alcançar [fare] quando abandonarmos as vestes corpóreas e as paixões materiais, não só desprezando a sua ínfima [piccola] beleza pela suma, da qual ela e outras muito mais dignas dependem, mas ainda odiando-as e fugindo-lhes, visto que impedem chegar à verdadeira beleza, na qual consiste o nosso bem». Atingindo este supremo grau da meditação, o homem transporta-se para fora de si, fica alheio a si próprio, e o espírito regressando a Deus converte-se nele, devindo «inclinado a todas as coisas honestas e resistente às desonestas» e vendo «conjuntamente todas as coisas em suma perfeição». Na vida terrena é difícil atingir esta copulação com o intelecto divino e muito mais ainda, obtendo-se, perseverar nela, porque a nossa alma vive vinculada à matéria frágil do corpo; mas na além vida, desligada já desta «atadura corpórea» goza eternamente da venturosa copulação com a luz divina. A imortalidade deriva assim da união com Deus; é antes uma consequência do conhecimento, que a persistência do próprio ser. «Como as coisas divinas e eternas fazem o intelecto divino, verdadeiro e eterno como elas, assim as coisas sensuais, corpóreas e corruptíveis o fazem material e corruptível» e a alma humana conhecendo as coisas «eternas, maximamente divinas, faz-se imortal e eterna e atinge a sua própria felicidade». A imortalidade, consequência da beatitude, é portanto «vivere in eterno intellettualmente».
|
|