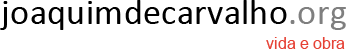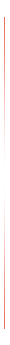Uma filosofia, ou por outras palavras, uma ideia e não um embrechado de opiniões, é sempre problema a esclarecer e jamais assunto esclarecido.
É-o em primeiro lugar pelo cunho pessoal, pois, como disse Fichte, «a filosofia que se professa depende do que se é como homem», e que há de mais difícil e escrupuloso do que o acesso e a compenetração do ser espiritual de outrem? E é-o em segundo lugar, porque o juízo depende dos materiais que a indagação histórica vai trazendo à luz e, sobretudo, das variações da consciência cultural, que se afina, depura e torna exigente à medida que a própria cultura se aprofunda e alarga.
No mundo do Espírito como no mundo da Natureza, para que certos acontecimentos se produzam é necessário que se deem certas condições, mas este pressuposto não significa que os acontecimentos naturais e culturais tenham de ser considerados no mesmo plano e sob as mesmas categorias. A razão humana é uma e só e não muda como o camaleão com a aparência dos objetos, mas a razão que se aplica às produções do génio artístico ou do talento especulativo defronta problemas e encara soluções irredutíveis aos da razão que explica o acontecer natural. Na Natureza, os acontecimentos passam-se independentemente do espírito; mas no mundo da Cultura, que é o mundo que o homem acrescenta à Natureza indiferente, «sem Frínico, Timóteo não teria existido», no expressivo dizer de Aristóteles no II da Metafísica. É que os produtos culturais são ideados e não imediatamente dados à consciência reflexiva. Pressupõem um esforço de apreensão, de seletividade e de valoração, normalmente mais exigente que a mos-tração e o acesso, relativamente gratuito, dos seres naturais. Daí, as variações de critério, de gosto, e de interpretação relativamente ao legado histórico-cultural, as retificações, ressurreições e eclipses das criações artísticas e das lucubrações filosóficas no horizonte espiritual das sucessivas gerações.
Francisco Sanches, o filósofo cujos pais eram portugueses, cujo batismo teve lugar em Braga, na igreja de S. João do Souto, em 25 de Julho de 1551, cuja educação literária se iniciou na cidade dos arcebispos e cuja personalidade religiosa ele próprio algumas vezes definiu dizendo-se da «diocese bracarense», não escapa, corno pensador algum pode escapar, a esta lei do acontecer cultural. Claro que em relação à sua obra e ao seu pensamento se não produziram, nem podem vir a produzir-se, as alternativas e variações profundas, quase de estrutura, que já se produziram e necessariamente se produzirão com o deslinde de novos dados, correlações e influências relativamente aos contados filósofos que descobriram problemas insuspeitados e métodos inaplicados —, os dois descobrimentos que mais importam ao pensamento teorético, a cuja vida é fatal o ópio das soluções terminantes e definitivas. O jogo caprichoso das vicissitudes e alternativas das apreciações é privilégio das criações geniais, e Sanches legou-nos somente obras de talento, aliás nem sempre isentas de circunstancialidade e de retorce dialético. As raízes escolares prendem-nas demasiadamente à época e ao meio para que foram escritas; não obstante, as suas páginas, numericamente consideradas, e o seu pensamento, na respetiva estrutura e significado histórico-filosófico, não são hoje o que foram ontem e nos tempos em que se produziram.
No que toca à obra, os contemporâneos de Sanches, que faleceu em 1623, aos 72 anos, somente puderam ler em letra de forma o Carmen de Cometa, impresso em 1578, e o Quod nihil scitur, que veio a público em 1581. A geração que lhe sucedeu já pôde utilizar, a partir de 1636, por diligência de Delassus e dos filhos do filósofo, a publicação póstuma da Opera medica, volumosa e variada, e de alguns tratados filosóficos até então inéditos, a saber o De longitudine et brevitate vitae, o In Aristotelis Physiognomicon commentarius e o De divinatione per somnum ad Aristotelem.
Significa este facto, que catorze anos depois da morte de Sanches se alargou consideravelmente o conhecimento da sua atividade literária e, consequentemente, se tornou possível a formulação de juízos críticos mais vastos e mais densos. O alargamento, porém, não fora exaustivo que Sanches alude a livros que trazia entre mãos ou tinha em projeto, a saber, o Examen rerum, o De modo ou methodus sciendi, o De anima, e os tratados De loco, De vita, De elementis e De seminis.
Nenhum destes livros chegou até nós, e de todos eles o que esteve mais próximo do termo, se é que não ficou concluso, foi o Examen rerum, cuja estrutura pode em parte ser reconstituída com mais firme consistência que a de qualquer outro. O simples título de todos eles indica com suficiente clareza que Sanches se ocupou ou pensava ocupar de outros problemas além dos que as obras impressas nos dão a conhecer —, e esta ilação é confirmada pelo descobrimento recente, em 1944, de urna Carta-consulta dirigida a Cristóvão Clávio, o Euclides do século XVI, que estudou Artes em Coimbra e foi dos mais esclarecidos e devotados admiradores de Pedro Nunes.
A interpretação do pensamento de Sanches variou naturalmente em função da divulgação do conhecimento da obra, da prefiguração da problemática a que os escritos publicados e inéditos respondiam e do alargamento de horizontes da consciência cultural, e especialmente do aprofundamento da História da Filosofia, de constituição recente, pois o seu objeto, aliás de apreensão difícil, somente se tornou possível depois do génio de Hegel haver mostrado a historicidade do pensamento e de Zeller a ter, por assim dizer, documentado, relativamente à filosofia helénica.
Para os coetâneos, que se detiveram quase exclusivamente nas páginas do Quod nihil scitur, sem repararem nos hexâmetros do Carmen de cometa, Sanches foi, por antonomásia, o «cético». As gerações ulteriores, apesar de disporem dos tratadinhos filosóficos non insubtiles da edição de 1639, não alteraram substancialmente este conceito. Sanches continuou a ser acima de tudo o filósofo do Quod nihil scitur —, ou por outras palavras, o autor de um livro de título afortunado, cujo denso e arrogante laconismo feria a imaginação com a promessa do ceticismo radical e universal.
No decurso do século XVII, o seu pensamento foi de algum modo atual e o seu nome conheceu o sucesso das reedições e a celebridade inerente às críticas e censuras. O ceticismo foi por então uma das atitudes naturais do homem culto; por isso, de Pierre Bayle a Francisco de Quevedo, isto é, da erudição sem confins ao devaneio literário, engenhoso e repentino, sem omissão dos filósofos, como Leibniz, e dos adversários do «espírito forte» e da «libertinagem intelectual», como Marin Mersenne, o nome do autor do Quod nihil scitur foi, de algum modo, atual e vivo. A fama sucedeu rapidamente o esquecimento.
O século XVIII não atentou em Sanches; racionalista confiado e confiante, o século do progresso pela irradiação das luzes não podia reparar numa obra que discorria sobre noções e sobre temas distantes dos ideais que a conceção mecanicista do Universo desenvolveu e aplicou para glória e benefício do género humano.
O século XIX reavivou o nome de Sanches, mas reavivou-o a seu modo, isto é, sob a categoria da historicidade. O pensamento do Quod nihil scitur tornara-se definitivamente inatual e distante, e somente podia interessar como objeto de reflexão histórica, isto é, de interpretação, de explicação e de correlação e significação cultural.