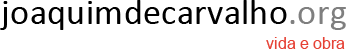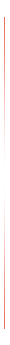I
RENASCENÇA E HUMANISMO
A cultura medieval portuguesa não ignorou inteiramente a antiguidade clássica, mas desconheceu, como as demais culturas coetâneas, o sentido racional e universalista do classicismo, isto é, não descobriu nas contadas páginas literárias romanas que pôde ler um conjunto de valores estéticos autónomos, dignos de serem considerados como objeto de admiração desinteressada, de imitação ou de estudo, já em si próprios, já pela forma em que se apresentavam.
À antiguidade pediam-se acima de tudo narrativas, ficções ou exempla para a reflexão moral. Assim, no século XV, o malogrado infante D. Pedro, na Virtuosa Benfeitoria, e Gomes Eanes de Zurara, nas suas Crónicas, comprazem-se na exibição de referências a personagens, livros, factos e ideias da literatura latina, sobretudo, colhidas por vezes nos originais, porém numa atitude moralizante, que dissolvia, quando não deturpava, o ideal, o ritmo de pensamento e a sensibilidade dos antigos.
O sentimento da relatividade histórica obliterara-se, concebendo-se e vestindo-se com roupagens medievas as figuras e façanhas da antiguidade.
Os fins religiosos e éticos dominavam todas as consciências; e deste primado, consequência do conceito da natureza humana corrupta e terrenalmente transeunte, brotara espontaneamente o sentimento de que a arte não constituía um fim em si: era uma forma de amenizar o trânsito pela vida deste mundo. Quer-se melhor prova que o Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, cujas poesias, em grande parte, no juízo de D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos, são esteticamente “meros divertimentos festivos, improvisados por fidalgos que aprenderam a versificar como aprendiam a dançar, esgrimir, cantar, montar e montear”?
Este calmo equilíbrio entre a vida, o ideal e a arte, que nalguns poetas do Cancioneiro fulge como derradeira centelha do ideal estético da Cavalaria, quebra-se no século XVI. Procura-se então uma nova fórmula para as relações da arte e da moral, que não afete nem diminua a irradiação da beleza; e a poesia, a musa, como diziam, em si mesma virtude, exigirá do poeta probidade moral e intelectual, e em vez de brincos, galanteios ou censuras jocosas, cantará o homem nos seus esforços e nas suas exaltações, os grandes acontecimentos, ou a vida e as aspirações de um povo, como os Lusíadas.
Isto não significa que a alma portuguesa se tivesse transmudado. Atingiu-a, sem dúvida, a viragem intelectual do século, para cujas inovações científicas aliás os nossos navegadores concorreram com a opulenta oferenda de factos inauditos, insofismáveis e vibrantes no clamor de mais exata explicação, mas o cerne espiritual, aquilo que dá ser e figura autêntica, aos indivíduos como aos povos, quase permaneceu incontaminado. O seu mundo interior, de fronteiras cerradas, foi muito mais pequeno que o da exterioridade imediata, do mar e da terra, oferecido pela palpitação vibrátil dos sentidos. Daí, a exígua interiorização, o curso inalterado dos mesmos valores éticos, sem desvios da transcendência para os caminhos individuantes da imanência, e certo acanhamento nos rasgos do pensar, na índole, forense, e na substância, espessa e rasteira. Não se sentiu nunca só, livre e sem amparo no universo silencioso e mudo, porque tudo lhe conclamava a mesma mensagem transcendente e eterna.
Por isso, o português de sangue lídimo e índole castiça se não incendiou com a virtú do italiano, a sua fé não tergiversou com as rebeldias do germano e a sua razão não sorriu com o riso claro e cortante de alguns franceses; no entanto, a relação entre o espírito e a vida tornou-se-lhe mais íntima, acentuando-se, pelo culto do ideal religioso e estético, a atitude militante e a separação entre a sensualidade impulsiva e a imaginação que a sublima. Os amores de Bernardim Ribeiro e de Crisfal são já embalados pelo afago da subjetividade que transfigura Eros, e em Camões, o entusiasmo emocional, aliás sempre cálido, eleva-se por vezes às alturas do ideal erótico de inspiração platónica, onde Vénus perde o atrativo sensual para devir um raio da beleza que não morre.
Isto não significa, uma vez mais, que tivesse havido em Portugal uma moral renascente, no sentido libertino da licenciosidade pagã ou ainda de nova fundamentação com base puramente antropocêntrica. Em Sá de Miranda, por exemplo, o travor acrimonioso da misantropia não quebranta o protesto da dignidade e da responsabilidade moral, e em João de Barros, na Ropica Pnefma (Mercadoria Espiritual), embora se veja despontar o conflito do naturalismo e do amoralismo com a espiritualidade religiosa, a dialética é fictícia, não sentida, sendo como vitupério que o futuro historiador das Décadas escreve que “até ao fim há-de haver Marte, Baco, Príapo e tôdolos os outros que sempre houve”.
Sob as novas preocupações e os novos valores flui intacta a substância do mundo ético e religioso da Idade Média. Para o nosso espírito quinhentista, a fé e a razão diziam o mesmo: nem independência, nem dupla verdade, nem o salpico irónico da dúvida e menos ainda a libertinagem intelectual com o sentido explosivo que a palavra vai ter mais tarde, nos séculos XVII e XVIII. O pato medieval, porém, sofreu alterações profundas; se em Gil Vicente ele é ainda ostensivo e predicante, pois, a despeito da evolução do seu espírito no sentido da repreensão e da liberdade crítica, as fontes hagiográficas dos Autos, a utilização do exemplum como recurso expressivo da moralização, à maneira dos pregadores, e a conceção teocêntrica da vida, são francamente medievais, nos escritores da geração imediata, como António Ferreira e Camões, apresenta-se já com feições menos reconhecíveis, na inédita expressão falada ou escrita, na interioridade consciente da nova dialética, no enriquecimento de conceitos e na largueza de conhecimentos, na originalidade e na individualização de novos valores estéticos.
É que entre as duas atitudes tão diversas se operou uma verdadeira revolução no pensamento, que, em rigor, já não atingiu Gil Vicente: a descoberta da antiguidade, ou antes, para empregar o formoso termo consagrado, a Renascença. A sua raiz intelectual, pelo que à literatura respeita, foi o humanismo, isto é, a admiração entusiástica pelas criações greco-romanas, cujo estudo, servido por uma disciplina nova, a filologia, se tornou autónomo, e cuja perfeição clara e serena se concebeu e propôs como modelo e paradigma da imitação.
Afastando-se da sensibilidade medieval, ingénua e rude, fascinados pela Grécia e pela Itália, estes homens felizes fizeram o milagre de uma ressurreição deslumbrante; e simultaneamente geraram novos ideais, porque o mesmo espírito que com o fervor do neófito sentia e compreendia a antiguidade, descobria-se a si próprio, recriando-se com novas potencialidades de ação e de vida espiritual.
Este intenso movimento, começando por ser nos séculos XIV e XV um acontecimento italiano, tornou-se no século XVI um facto europeu e uma das origens da Europa moderna. Portugal ofereceu então à curiosidade ilimitada do século e à irradiação da civilização europeia fronteiras desconhecidas e novos métodos de conquista da Terra, e com verdade pôde escrever (1531) o panegirista do imperialismo nacional que “se agora cá viesse Ptolomeu, Strabo, Pompónio, Plínio ou Solino com suas três folhas, a todos meteria em confusão e vergonha, mostrando-lhe que as partes do Mundo, que não alcançaram são maiores que as três em que eles o dividiram” (Ropica Pnefma). E para além do alargamento do horizonte geográfico e científico, Portugal conviveu ainda neste banquete augusto, colaborando no movimento humanista de compreensão da antiguidade, e reeducando a cultura pátria num sentido que permitiu harmonizar o orgulho nacional com o sentimento universalista da Respublica Christiana.


 História da CulturaMonumentos de cultura e da arte tipográfica (...)Joaquim de Carvalho, historiador da cultura (...)Sobre o humanismo português na época da (...)Os sermões de Gil Vicente e a arte de pregar (...)A propósito da atribuição do secreto de (...)Ver índice completo
História da CulturaMonumentos de cultura e da arte tipográfica (...)Joaquim de Carvalho, historiador da cultura (...)Sobre o humanismo português na época da (...)Os sermões de Gil Vicente e a arte de pregar (...)A propósito da atribuição do secreto de (...)Ver índice completo