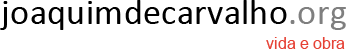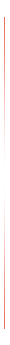Com a Legenda aurea Sanctorum, o Poeta não concebeu o nascimento do Deus-Menino sem o presépio, sem os anjos que descem à Terra, entoam a Gloria e adoram o recém-nascido, sem o brilho de uma luz na noite fria e escura, sem a estrela guiadora, sem os pastores que se interrogam uns aos outros com perguntas que a imaginação pode vestir de mil maneiras.
Todos estes e outros elementos entram e colaboram na representação vicentina do Natal, como entram e colaboram na representação de outros artistas, visto constituírem a própria “matéria” do Natal. A imaginação de cada um afeiçoa-os diversamente, segundo o respetivo poder da fantasia, segundo o temperamento e a idiossincrasia pessoal, segundo o impulso do próprio génio criador, e por isso, havendo um só Natal para a comunidade dos crentes, há tantas efabulações poéticas do Natal quantas as estruturas dos génios poéticos individuais.
O Natal vicentino correlaciona-se, pois, com a constituição psicológica do Poeta, e porque esta foi de índole concreta, — nunca discorreu pelo abstrato, sendo assaz significativa a forma como explica a origem do nome do Mondego na Comédia sobre a divisa da cidade de Coimbra (1527) —, de imaginação plástica, de atividade militante, Gil Vicente acentuou fundamentalmente a “matéria” que melhor quadrava à sua sensibilidade lírica e ao seu poder efabulador.
Os pastores são um desses elementos que jamais faltam, e sempre se apresentam com feições e rasgos da nossa gente. O Presépio talvez pudesse imaginá-lo sem animais, mas Natal sem pastores de gado era para o seu espírito coisa inconcebível, e consequentemente não podiam deixar de comparecer no Auto dos Mistérios da Virgem: inconcebível, pela referência expressa que S. Lucas lhes fez, (II, 8), e imprescindíveis, porque a legenda erguera a presença dos pastores a testemunho flagrante da “verdade infalível do nascimento do Senhor”.
Furta-se ao nosso intento a análise deste “passo”, seu confronto com “passos” similares e respetiva integração na legenda da Natividade, aliás tornada agora fácil pela referência às fontes, pois apenas temos em vista mostrar que o apólogo da Mofina Mendes é um exemplum e que a pegureira simboliza aquela forma de insensatez que
das ondas faz ilhéus,
cujas manifestações atoleimadas como que serviram de assunto ao sermão jocoso que prolongara o Auto.
Atentemos, pois, no apólogo.
Integra-se, como dissemos, no “passo” dos pastores, que o próximo nascimento do Menino-Deus dera providencialmente ensejo, como decerto Gil Vicente pensaria, a que se juntassem.
Mofina Mendes era pegureira de Paio Vaz, havia trinta anos. Má serviçal e mulher estouvada, quando o amo lhe pediu conta do gado respondeu que em vez de perguntas lhe pagasse a soldada, mas sempre foi dizendo que não sabia por onde andava a boiada; que tinham morrido sete vacas e três bois; que os lobos tinham dizimado as vitelas, as cabras andavam erradias, os cabritos tinham sido levados pelas raposas, e que as ovelhas reganharam, os carneiros se afogaram, as cabras engafeceram e os rafeiros morreram.
Com tais novas, o amo entendeu que devia despedir tão “daninha pegureira” e em paga da soldada dá-lhe um pote de azeite, recomendando-lhe que o fosse
... vender à feira;
e quiçá medrarás tu,
o que eu contigo não posso.
Mofina Mendes aceita a paga.
Põe o pote à cabeça, dizendo que vai vender o azeite à feira de Trancoso, e com o dinheiro que apurar comprará ovos de pata, que porá a chocar, e que depois venderá os patos, havendo de lhe render a venda para cima de um milhão de reais.
Dona de tanto dinheiro, casará rica e honrada, indo no dia do seu noivado ricamente ataviada ao encontro do noivo, bailando e cantando. Enlevada nestes pensamentos e azougada no rodopio do bailado, cai-lhe o pote da cabeça, desfazendo-se num instante, com o entornar do azeite, os fumos de riqueza e de felicidade que imaginara.
Desiludida, retira-se, cantando esta belíssima cantiga:
Por mais que a dita m'enjeite,
pastores, não me deis guerra;
que todo o humano deleite,
como o meu pote de azeite,
há-de dar consigo em terra.
A teatralização do episódio é uma das mais belas criações do génio vicentino, mas como observou Esteves Pereira, honra da Erudição no nosso século, “o diálogo de Paio Vaz e da Mofina Mendes... parece ter sido inserto somente para captar a atenção dos ouvintes e inculcar uma lição de moral”.
Esta é, com efeito, a interpretação mais consistente e coerente —, a única que, a um tempo, se harmoniza com a forma de insensatez que consiste em fiar a felicidade de sucessos vindouros e contingentes, a qual fora, de certo modo, o tema do sermão jocoso, se integra no simbolismo de Mofina Mendes, que não é, em rigor, uma pessoa mas o estado psicológico e a situação social próprios de quem “põe a cabeça nas mãos dos ventos” — assim, no plural, como o Poeta escreveu e mais sabor epocal possui — e, sobretudo, se prende às fontes do apólogo, as quais radicam na conceção medieval do exemplum, isto é, de uma historieta literária que desenfade, instrua ou moralize.
Mostrou pela primeira vez Vasconcelos Abreu cuja opinião Esteves Pereira posteriormente aprofundou e desenvolveu que a origem do apólogo remonta a uma fábula, ou avadana no dizer dos orientalistas, inserta no Panchatantra, obra escrita em sânscrito e de data anterior à primeira metade do século VI da nossa era.
Este livro foi traduzido em siríaco circa 570 e em arábico, no século VIII, com o título de Kalilah e Dimnah, fazendo-se desta tradução duas novas traduções, uma para hebreu, circa 1250, e outra para castelhano, circa 1261. Da versão hebraica fez o franciscano Fr. João de Cápua, circa 1270, uma tradução latina, que intitulou Diretorium humanae vitae, alias parabola antiquorum sapientium, impressa pela primeira vez em 1480; e D. Juan Manuel (1282-1348), sogro do rei D. Pedro I, imitou o livro de Kalilah e Dimnah no seu Livro de Patrónio ou El Conde Lucanor, que foi lido e citado em Portugal no século XV.
Destas investigações, que resumimos concisamente dos estudos dos dois insignes orientalistas, e do confronto dos respetivos textos, que ambos reproduziram, concluiu Esteves Pereira, que “as obras, pelas quais, segundo se pode presumir, Gil Vicente teve conhecimento do apólogo indiano, para compor a fala da Mofina Mendes, não poderiam ser outras senão a versão castelhana do Livro de Kalilah e Dimnah, o Diretorium humanae vitae, por João de Cápua, e o Livro de Patrónio ou Conde Lucanor, por D. João Manuel; mas é muito mais provável que fosse esta última... Todavia, fazendo a comparação da fala da Mofina Mendes com o exemplo do Livro de Patrónio ou Conde Lucanor observa-se uma diferença muito importante: no Livro de Patrónio a narração é desenvolvida mostrando-se um progressivo e gradual crescimento da prosperidade do herói até chegar a ser rico, constituir família, ter filho, que educa castigando-o se não for obediente; na fala da Mofina Mendes a narração é condensada à primeira gradação, na qual a heroína é já tornada rica, apresentando-se logo o êxito, que foi a destruição (perda) do objeto (pote de azeite), que havia de produzir a riqueza, e mostrando-se a inanidade dos seus pensamentos. Mas esta redução da narração era exigida pelo movimento rápido da cena do auto, onde seria talvez fastidioso o desenvolvimento feito no Kalilah e Dimnah e no Diretorium humanae vitae”.


 História da CulturaJoaquim de Carvalho, historiador da cultura (...)Sobre o humanismo português na época da (...)Os sermões de Gil Vicente e a arte de pregar (...)A propósito da atribuição do secreto de (...)Sobre a erudição de Gomes Eanes de Zurara (...)Ver índice completo
História da CulturaJoaquim de Carvalho, historiador da cultura (...)Sobre o humanismo português na época da (...)Os sermões de Gil Vicente e a arte de pregar (...)A propósito da atribuição do secreto de (...)Sobre a erudição de Gomes Eanes de Zurara (...)Ver índice completo