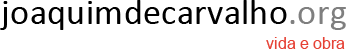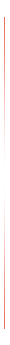São de sempre, na nossa gente, os testemunhos do amor do livro e da consideração por quem os escreve, os aprecia, os ajunta e conserva. Espontâneos ou refletidos, de ignorantes ou de letrados, eles denotam a disposição moral para se atribuir à civilização um sentido de hierarquia espiritual e dão a conhecer uma faceta da nossa compleição, que através das mutações políticas, da transformação das condições de existência e das inovações dos recursos técnicos jamais deixou de prezar o trabalho intelectual como a aplicação mais alta da atividade humana, mormente se desinteressado e de honradas intenções.
Sendo de sempre, e portanto constantes, nem por isso os testemunhos do amor do livro têm sido unilineares e por igual provenientes de todas as camadas e maneiras de ser que compõem a sociedade portuguesa, pois a amplitude crescente das suas manifestações está em correlação direta com a generalidade do acesso ao prazer da leitura.
Nos primeiros tempos da Monarquia, isto é, no alvorecer da nossa comum biografia política, que não nacional, -- para nós Portugueses a Nacionalidade é anterior ao Estado, radicando inicialmente em tempos proto-históricos quando o gregarismo tribal de grupos transumantes e vinculados pela consanguinidade do parentesco se transfigurou por múltiplas causas e no decurso de gerações no sentimento terrantês de famílias ligadas à casa, ao solo e à paróquia—, no alvorecer do Estado Português, íamos dizendo, quando à espada e à charrua coube a missão instante de rasgar e de firmar perspetivas vitais da existência coletiva, somente as entidades e corporações religiosas lograram os ócios e a disposição de espírito inerentes à leitura e ao amor do livro.
Só o clero, designadamente alguns bispos, um ou outro mestre-escola de catedrais e de colegiadas, e, sobretudo, as ordens monásticas, usufruíram condições propícias à aquisição e apreço dos livros.
Pode dizer-se que não deve ter havido mosteiro sem livraria, mas nem todas as livrarias dos mosteiros ultrapassaram a finalidade litúrgica e ascética. Das exceções, sobressaem pela significação na nossa vida intelectual os beneditinos de Lorvão, cujo scriptorium foi no século XII a nossa mais laboriosa oficina de letras, os regrantes de Santa Cruz, que mal estabelecidos (1132) em Coimbra logo enviaram ao mosteiro de S. Rufo, de Avinhão, uma missão de copistas, e os cistercienses de Alcobaça (1148), a quem se ficaria devendo a mais famosa livraria medieval portuguesa e cuja feição doutrinal anterior às artes praedicandi dos séculos XIII e XIV e à expansão do Tomismo, aliás notavelmente representado por escritos do período napolitano Aquitanense, parece ter sido como que a projeção literária das escolas catedrais de Laon e de Chartres.
Pela formação e pelo destino, estas livrarias, fossem de regulares ou de seculares, visavam essencialmente os ofícios litúrgicos, a formação eclesiástica, especialmente de pregadores, e a cultura teológica e canónica. Uma ou outra, notadamente a de certo mestre-escola coimbrão e a de Alcobaça, contavam por vezes códices de assunto não eclesiástico, mas a cultura secular, ou mais propriamente, as expressões da sensibilidade literária, o reconto histórico e o que pode designar-se de curiosidade científica, tiveram por lareira outros locais: primeiramente, o paço real, mais tarde, a Universidade e por fim, depois do comércio fácil do livro impresso, as livrarias particulares.
Levaria longe e seria demorada, mesmo com passadas daquelas botas a que Hegel chamava de “sete léguas”, a digressão por tantas e tão variadas manifestações do amor do livro, ou por outras palavras, da afeição à cultura do espírito e dos ideais que ultrapassam o trivial e quotidiano. Repare-se, pois, exclusivamente e apenas como preliminar, nas livrarias do paço real, ou mais propriamente, no nome de alguns reis que tiveram o amor do livro e pelo exemplo deram incentivo e proporcionaram condições imediatas e diretas para o exercício folgado da atividade intelectual.
Durante a primeira dinastia, a livraria real parece ter sido pertença livremente disponível, que nascia, se transferia ou dispersava pela vontade do monarca que a juntava. No século XV, porém, com a dinastia de Aviz, ela perde, de algum modo, o carácter de propriedade pessoal para adquirir o de património da Coroa, alcançando consequentemente continuidade e mais direta influência, a qual se prolongou até à acessibilidade do livro impresso em tempos de D. João III. Menos policiada que as livrarias monásticas, aberta a outros ventos do espírito, a livraria real assinala então uma avançada na marcha da secularização intelectual e torna-se um instrumento eficaz e renovador de alguns sectores da cultura pátria.
Das livrarias de tipo pessoal nenhuma excedeu, ao que é crível, a de D. Dinis, o rei-poeta, a quem as musas tutelares do artificioso amor--cortês e da “gaia ciência” não distraíram do sentido utilitário das realizações práticas. Do seu testamento de 1321, pelo qual lega ao filho D. Afonso os livros “que pertencem à minha capela”, se depreende que possuiu livros litúrgicos e, quiçá, de edificação; é fora de dúvida, porém, que a livraria do neto de Afonso X, o Sábio, e seu digno representante na largueza de espírito e na atividade intelectual, deveria satisfazer outras preocupações além das religiosas. A corte dinisiana foi um centro de irradiação intelectual, cujos raios nitidamente se desenham na obra poética e nas fundações de iniciativa do monarca, à cabeça das quais logo aparece o Estudo Geral, ou Universidade (1290), nas traduções que promoveu, na roda de letrados de que se acompanhou, na floração poética do seu tempo, cuja consagração o jogral Ioham, de Leon, doridamente exprimiu no planh:
Os namorados que trobam d'amor
todos deviam gram doo fazer,
et non tomar em si nenhü prazer
porque perderon tam boo senhor
com' el-rey D. Denis de Portugal.
Com a dinastia de Aviz a livraria real, tornada de algum modo património nacional, alcança mais vasto e prestante destino. Basta atentar na circunstância de Gomes Eanes de Zurara haver concluído em 1453, na livraria de D. Afonso V, a Crónica do Descobrimento e Conquista de Guiné, na qual já pulsa a vibração épica dos acontecimentos que estavam destinados a assinalar uma viragem decisiva da História da Terra e da Civilização, para que logo ressalte a influência e valimento da nova feição que a livraria real adquiriu.
Não existe, que saibamos, um testemunho tão expressivo como este, relativamente às livrarias do avô e do pai do Africano, de quem equivocadamente Rui de Pina escreveu que fora “o primeiro rei destes reinos que ajuntou bons livros e fez livraria em seus paços”, mas ele é como que dispensável quando se consideram os escritos saídos da pena de D. João I e de D. Duarte e da dos letrados que lhes assistiam e se atenta nas condições morais, intelectuais e pedagógicas que tornaram possível a compleição espiritual e as ações da “ínclita geração”.
Com efeito, tudo concorre para indicar que foi em tempos de D. João I que se constituiu o fundo inicial da livraria da Coroa, que D. Duarte e D. Afonso V conservaram e aumentaram, e que persistiria, ao que parece, até D. João III.


 Livros de D. Manuel II- Manuscritos, (...)ManuscritosIncunábulosLivros do Século XVI impressos em PortugalCamonianaLivros de portugueses e de estrangeiros que (...)Ver índice completo
Livros de D. Manuel II- Manuscritos, (...)ManuscritosIncunábulosLivros do Século XVI impressos em PortugalCamonianaLivros de portugueses e de estrangeiros que (...)Ver índice completo