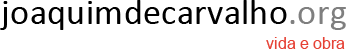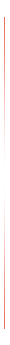ORGANIZAÇÃO DO ENSINO, ESPECIALMENTE UNIVERSITÁRIO:
PRIVILÉGIOS OUTORGADOS À UNIVERSIDADE POR D. JOÃO I;
REORGANIZAÇÃO DE ESTUDOS REALIZADA PELO INFANTE D. HENRIQUE; A UNIVERSIDADE NO TEMPO DE D. AFONSO V; REFORMA MANUELINA; TRANSFERÊNCIA DA UNIVERSIDADE PARA COIMBRA, E REORGANIZAÇÃO DO ENSINO NO TEMPO DE D. JOÃO III.
O ENSINO ELEMENTAR E MÉDIO. A DINASTIA DE AVIS E A NOVA
FEIÇÃO DAS LIVRARIAS.
A Universidade medieval portuguesa possuiu, como dissemos em capítulo anterior, uma característica singular: a instabilidade. Ora em Lisboa, ora em Coimbra, não deixou nunca de ser a mesma escola, porque foi a organização corporativa e científica, e não o local, que lhe conferiu singularidade.
À data da morte de D. Fernando (1383), a Universidade encontrava-se situada em Lisboa, onde permaneceu até 1537. A trasladação para a capital (1377-1378) parece ter obedecido ao intento de uma reforma: “vendo e considerando — dizia D. Fernando no diploma de 3 de Julho de 1377 — que, se o nosso Estudo, que ora está na cidade de Coimbra, fosse mudado na cidade de Lisboa, que na nossa terra poderia haver mais letrados, que haveria se o dito Estudo na dita cidade de Coimbra estivesse...”.
Com efeito, a deslocação do Estudo Geral foi seguida, como notámos, de um conjunto de medidas que o tornaram similar das Universidades estrangeiras, quer na organização e nos métodos de ensino, quer no reconhecimento do jus ubique docendi. D. Fernando inaugurara a era das reformas universitárias, cujo desenvolvimento e execução coube à dinastia de Avis, e desde logo, ao seu fundador. O primeiro ato de significação universitária do mestre de Avis, ainda Regedor e Defensor do Reino, foi a confirmação, em 3 de Outubro de 1384, dos privilégios, constituições e ordenações da Universidade, a declaração de que esta permaneceria perpetuamente em Lisboa, a concessão aos doutores, licenciados e bacharéis em direito civil e canónico de poderem advogar sem licença régia, e, finalmente, a proibição, anteriormente estabelecida pela Universidade, de os bacharéis e estudantes ensinarem particularmente fora das aulas do Estudo, sob pena de multas e outras sanções. Tão solenes declarações têm levado alguns historiadores a conjeturar que os professores e estudantes da Universidade de Lisboa seguiram resolutamente, na hora incerta da luta, o partido do Mestre de Avis, que hasteava a causa da independência nacional; mas quaisquer que fossem, os motivos que as determinaram, e não é possível isolá-los com segurança, a consequência é manifesta: a Universidade persistia como organismo autónomo e privilegiado.
Dentre estes privilégios um se destaca: o foro académico, cível e criminal. O que até então havia sido costume tacitamente aceite e porventura impreciso, tornou-se lei categórica pela carta régia de 4 de Maio de 1408, na qual D. João I, fixando o poder jurisdicional do conservador da Universidade, ordenava “a todallas Justiças, quaeesquer q sejam destes Regnos, que daqui emdiante nom conheçades de feito nenhu crime nem çiuell de nenhuu scollar q seja do corpo da dita universidade, mais que como fore achados em algfiu malleficio, ou delles for dada querela ou denunciaçom, e forem presos per noso mandado em nosas prissões, ou vos forem demandados per o dito conservador, que logo os entreguedes ou mãdedes entregar ao dito sseu conservador, q hora he, ou pellos tempos adiante forem, que ouçã e desembarge, assi os ditos ffectos crimes como çivees, de quaees quer scollares, e os livre como achar q he dereito, dando nos fectos crimes appellaçam pera nos, e nos fectos çivees agravo; e se por vemtura alguus scollares teemdes presos, mandamos vos q lhos emtreguedes ou mandedes emtregar logo logo pera o dicto conservador veer sseus ffectos, e os livrar com sseu dereyto, como dito he” (apud Dr. António de Vasconcelos, Origem e evolução do foro académico privativo da antiga Universidade portuguesa).
Como no passado, os privilégios e foros universitários, essenciais para a vida e progresso da Universidade, encontravam a resistência das justiças reais,' quando não do próprio conservador da Universidade. Os escolares, sobretudo, foram os mais queixosos, ora contra os almotacéis, ora contra os conservadores, ora contra as limitações das suas regalias tradicionais, ora contra o pagamento das coletas aos lentes e ao bedel.
A reconstituição destes episódios, a despeito de nos transportar para uma estrutura de vida estudantil tão diversa da dos nossos dias, é no fundo história anedótica, na qual o encadeamento dos factos só alcança sedução quando a imaginação os anima e transfigura; por isso trocá-la-emos pela exposição objetiva da orgânica e do desenvolvimento científico da Universidade até à morte de D. João III.
Ao trasladar o Estudo para Lisboa, D. Fernando instalou-o numas casas, a que o vulgo chamava da moeda velha, no sítio da Pedreira. D. João I, talvez porque estas casas fossem acanhadas ou impróprias, doou-lhe em 1389 outras casas, no mesmo sítio. Não sabemos ao certo se esta doação determinou um novo alojamento em casas próximas, ou se foi apenas uma ampliação das instalações já existentes; porém, tudo leva a crer que a Universidade considerou a doação como ampliação, porque, tendo o rei doado a Mem Rodrigues de Vasconcelos, Mestre de Sant'Iago, umas casas no sítio da Pedreira, os estudantes obtiveram a revogação desta doação com o fundamento de que o Mestre de Sant'Iago não consentia que nelas se ensinasse. Embora os documentos não especifiquem as casas doadas ao Mestre, conclui-se que se tratava das casas onde D. Fernando instalara o Estudo, e nas quais se manteve até 1431, ano em que o Infante D. Henrique lhe doou novas instalações, na freguesia de S. Tomé.
Para além da ampliação do Estudo, curou o rei de prover aos seus recursos económicos e progressos científicos. As receitas universitárias haviam-se tornado exíguas, já porque D. Fernando aumentara as côngruas dos vigários das igrejas anexadas ao mantimento do Estudo, já pela depreciação das rendas, já pelo acréscimo de despesas com novo pessoal docente. Foi da Universidade que partiu a primeira proposta para o aumento de recursos, sugerindo uma coleta lançada sobre os estudantes na proporção das possibilidades de cada um: os mais ricos pagariam vinte libras, e os mais pobres, cinco libras. D. João I, a quem fora submetida esta proposta, julgou-a insuficiente, determinando, por carta de 6 de Fevereiro de 1392, que se duplicasse a contribuição proposta. Não bastou, porém, este expediente para sanar as receitas do Estudo, e por isso, poucos anos depois, resolveu D. João I solicitar do Pontífice a anexação à Universidade de uma igreja de cada diocese do Reino.
O Papa João XXII deferiu a pretensão pela bula Dum attentae considerationis de 21 de Março de 1411, nomeando executor dela o prior de S. Vicente de Fora, o qual transmitiria o encargo ao lente, doutor, ou estudante, que o Estudo elegesse. Recaiu a eleição em Gonçalo Martins, tesoureiro-mor de Silves, que nos termos da bula anexou igrejas de todas as dioceses, com exceção de Silves e Badajoz e uma igreja do padroado real, à escolha do rei, o qual primeiramente cedeu a de Sant'Iago de Lisboa e posteriormente substituiu, a rogo da Universidade, por ser de escasso rendimento, pela de S. Nicolau, de Lisboa também. A Universidade não entrou logo na posse destas igrejas, cuja renda era avaliada na referida bula de João XXII à volta de quinhentas libras, e de algumas mesmo não chegou a cobrar receitas por lhe haver sido contestada a posse e fruição. Destas providências se depreende claramente o interesse pela instrução, e como poderia ser diversamente, se o Estado, ao ritmo da Nação, se reorganizava totalmente? No fundo, porém, ao ditá-las, D. João I não procedia espontaneamente: confirmava costumes e iniciativas académicas. E compreende-se.
A Universidade, pela sua tradição, pelo seu regimento e pela influência da organização universitária de além-fronteiras, que na essência foi um produto da sensibilidade e das conceções científicas da Idade Média, era um organismo autónomo, no qual o poder real se não fazia sentir tão dominadoramente como noutros departamentos do serviço público. A imperativa necessidade de vitalizar o Estado e as aspirações da Nação, a qual foi a missão e a obra suprema da dinastia de Avis, não tolerava, porém, que o rei fosse mero espectador ou restringisse a sua ação a ponderar as propostas que a Universidade lhe apresentava. Até onde foi a iniciativa régia na reorganização universitária?
Em face da escassa documentação publicada não é fácil a resposta. Sabemos que João das Regras, o famoso chanceler e jurisconsulto formado em Bolonha, teve a direcção (encarrego) do Estudo por nomeação régia, pois das cartas régias de 26 de Janeiro de 1415 e 23 de Agosto de 1418 se colhe a notícia do Dr. Gil Martins ter exercido durante o triénio este cargo, no qual sucedera a João das Regras. Da sua ação nada se sabe, assim como do tempo que a exerceu; porém, é verosímil supor que teria concorrido decisivamente para o desenvolvimento dos estudos jurídicos, pois de uma carta régia de 25 de Outubro de 1400, pela qual se aliviava o pessoal docente, discente e administrativo da Universidade das peitas, fintas, talhas e pedidos para o Estado, se colige que ensinavam então três lentes de Leis, três de Cânones, dois de Lógica, um de Medicina, um de Teologia e um de Gramática. Poucos anos depois, e antes de 1415-1418, o ensino da Gramática passou a ser feito por quatro mestres. A tabula legentium aumentara, pois, nos primeiros anos do reinado de D. João I, especialmente no ensino do Direito Civil e do Direito Canónico, sendo de notar o aparecimento do ensino universitário da Teologia, que até ao findar do século havia sido ministrado apenas nos conventos de dominicanos e franciscanos. O ensino universitário da Teologia fora uma conquista importante, e bastaria este facto para nos advertir que o Estudo de Lisboa entrara na via da atualização. É possível que o impulso tivesse partido de João das Regras, antigo aluno de Bolonha, cujo ardente patriotismo o tornaria desejoso de elevar o ensino jurídico e teológico da escola cuja direção o seu rei lhe confiara. É uma hipótese, com a qual entramos no domínio do possível; mas o que não oferece dúvida é que pertence ao Infante D. Henrique a glória de prosseguir e dilatar a reorganização da Universidade, e por ela a cultura pátria. A empresa a que se havia devotado reclamava a colaboração da inteligência orientada para a modernidade e para o saber da Natureza, e o voltar-se para a Universidade teria reconhecido que ela lhe não podia dar o que ele desejava, pelo regimento antiquado dos seus estudos.
Impunha-se a reorganização num sentido científico; e fosse esta razão, fosse a conceção ética dos deveres de senhorio, que seu irmão D. Pedro longamente explanou no Tratado da Virtuosa Benfeitoria, afirmando ser “cousa necessarya de sse tirar a ynorancia per studos continuados, os quaaes deve soportar qualquer senhorio que os pode manteer ordenando Universidade solemne en que os Sabedores consyrem todalas cousas per suas artes”, o certo é que o Infante D. Henrique foi o organizador do ensino universitário quatrocentista.
A Universidade reconheceu-o como tal, elegendo-o, ao que parece, seu protetor. Não se sabe com segurança a data em que foi eleito. O Dr. José Maria Rodrigues, num estudo acurado sobre O Infante D. Henri que e a Universidade, seguindo a tradição, diz ter sido “o primeiro... que aparece com o título de protetor da Universidade. Teve, porém, dois precursores, por intermédio dos quais D. João I começara já, ao que parece, a intervir diretamente no governo da Universidade. Foram eles os doutores João das Regras e Gil Martins, que ambos tiveram, sucessivamente, o encarrego da Universidade, ambos exerceram sobre ela jurisdição por um título até então desconhecido. Nos seus diplomas relativos à Universidade, pelo menos nos que conhecemos, não usou o Infante D. Henrique de nenhum título destinado a indicar a ingerência que nela tinha; mas no alvará de Pero Lobato, datado de 29 de Abril de 1441, chama-se-lhe governador da Universidade, e D. Afonso V, na provisão de 27 de Fevereiro de 1479, dá-lhe o título de protetor. Tratando-se de uma nova entidade, estranha à primitiva organização do Estudo Geral, não admira que houvesse a princípio algumas hesitações quanto ao termo por que ela se havia de designar. Chegaram até a ser empregadas no mesmo diploma as duas expressões de governador e protetor da Universidade (1476). Por fim prevaleceu a segunda, muito usada naquela época pelos dois poderes eclesiástico e civil, para ampliarem as respetivas jurisdições. No Livro dos Privilégios só uma vez, em uma pública-forma de 25 de Agosto de 1443, se dá ao Infante D. Henrique o título de “proteitor do studo (da cidade de lixboa)”. Quando principiou o Infante D. Henrique ao intervir no governo da Universidade? Figueiroa, que não teve conhecimento do alvará de Pero Lobato, escreve o seguinte: “não acho mais que um documento por que conste que o Infante D. Henrique exercitou a jurisdição de protetor e governador, que é uma carta sua feita em 23 de Agosto de 1443.
“Todavia, se é do Infante D. Henrique o alvará de 29 de Outubro de 1418, foi de certo neste ano que ele começou a exercer a sua jurisdição na Universidade, sucedendo naturalmente ao Dr. Gil Martins, que ainda em 23 de Agosto do mesmo ano tinha encarrego de studo.
“A que título assumiu o Infante D. Henrique o cargo de governador ou protetor da Universidade? Seria por nomeação régia, por eleição da Universidade, ou por eleição desta, precedida da insinuação do monarca? Os documentos que hoje nos restam são omissos a tal respeito. D. Jorge da Costa foi eleito (1479) pela Universidade, porque assim lho encomendou D. Afonso V. D. Rodrigo de Noronha foi nomeado por este mesmo rei (1476), sem nenhuma intervenção da Universidade. O infante D. Fernando, filho adotivo e herdeiro de D. Henrique, talvez exercesse a protetoria da Universidade por direito de sucessão. Assim se explicaria facilmente o facto de ele se dirigir à Universidade, por esta forma, em alvará de 24 de Julho de 1462: “rreitores leentes e conselheiros do meu estudo e vnjuersidade da çidade de lixboa”. Enquanto ao Infante D. Henrique, diz Figueiroa que a Universidade o elegeu por seu protetor e governador, em reconhecimento dos grandes benefícios que dele tinha recebido. O Dr. José Maria de Abreu diz também que o Infante fora eleito protetor, e supõe, por causa do alvará de 29 de Outubro de 1418, que a eleição teria lugar neste mesmo ano. Não conheço, porém, nenhum documento donde conste ter-se realizado este facto”.
Eleito ou nomeado, o Infante cumpriu os deveres do seu cargo. Impunham-lhos, a um tempo, a formação moral, grave e voluntariosa, as exigências da sua missão na vida nacional e, não o devemos esquecer, o ambiente intelectual da Corte e a sugestão do Infante D. Pedro, o mais culto da ínclita geração.
Comentando as sentenças platónicas de que “se deve chamar bem--aventurado e glorioso o mundo quando reinam os sabedores”, e “príncipe e sabedor todo seja uma cousa”, o mal-aventurado infante exprime a opinião na Virtuosa Benfeitoria que se corregeria o reino “mandando que cada huü bispado e religiom ordenassem certos collegios, e os studantes que em elles ouuessem, rrecebendo seus graaos fossem leentes por certos annos segundo se costuma em paris, e em uxonya (Oxford) ond aos meestres se nom paga preço polla ensinança que geeralmente outorgam, porque em suas lecturas som obrigados per iuramento: Por esta guisa enfloreceria a Coroa rreall com muytos letrados” (Liv. II, cap. 22).
O filósofo moralista não se contentou com ter exposto e fundamentado esta opinião. Descendo da teoria à realidade nacional, na famosa carta que de Bruges dirigiu ao futuro rei D. Duarte, escrita entre 1424-1428, expunha-lhe a opinião de “que a Universidade de vossa terra devia ser emendada, e a maneira vos escreverei segundo ouvi dizer a outro que nisto mais entendia que eu. Primeiramente, que na ditta Universidade ouvesse dous ou mais Collegios em os quaes fossem mantheudos escolares pobres e outros ricos vivessem dentro com elles a as suas proprias despezas, e todos morassem do Collegio a dentro, e fossem regidos por o [principal?] que de tal Collegio tivesse carrego: a ordenança [desto] he tal. Em a Cidade de Lisboa e em seu termo ha da Universidade sinco ou seis Igrejas e em aquestas se podião bem fazer outros tantos Collegios, e a cada hum que tivesse hum vigario, que desse os Sacramentos... que para aquelle Collegio fossem deputados, e estes dormissem em hum paço que tivesse Cellas e comessem juntamente em hum lugar, e fossem çarrados de so huma clauzura. Aquestes, Senhor, despois que ouvessem dous annos em a Universidade fossem graduados e lessem por juramento e avendo elles tal criação com ajudaria de graça de Deus senão bem acostumados eclesiasticos, e ainda os Bispos com seus Cabidos poderião fazer cada hum Collegios para seus naturais e os Monges pretos outro só pera si, e os Conegos Regrantes outro, e os Monges brancos outro, e ordenassem estes Collegios por maneira dos de Uxonia e de Paris, e assi crecerião os Letrados e as Sciencias... e ate disto se seguiria que vos achareis Letrados para offiçiaes da Justiça e quando alguns vos desprouvessem terieis donde tomar outros, e elles temendo-se do que poderia acontecer servirião melhor e com mais diligencia... parece-me, Senhor, que se a vossa mercee isto quizesse mandar averia grande honra a terra e proveito por azo da Sabedoria que deve ser muito presada, que a muitos tirou e tira de malfazer; mas devião ser tais ordenadores, que já estiverão em dittas Universidades, bons homens e avizados dos costumes, ou mandardes a alguem que vos escrevesse o regimento dos ditos Collegios”.
Nem D. Duarte, nem o Infante D. Henrique deram execução a este plano reformador, que teria condicionado talvez um ritmo mais europeu à nossa cultura científica do século XV, e sem dúvida importaria um câmbio profundo na estrutura da Universidade, pela substituição do modelo de Bolonha e de Salamanca, sob cuja ascendência havia nascido e crescido, pelo modelo de Oxford. De organismo corporativo, governado predominantemente pelos estudantes, passaria a ser uma instituição gravitando em torno dos interesses e competições científicas e morais, sob a autoridade dos principais dos colégios.
Tão profunda reforma teria encontrado necessariamente a resistência dos costumes e interesses consolidados; por isso se compreende que nem o Infante D. Henrique, como protetor da Universidade, nem D. Duarte, nos breves cinco anos do seu reinado (1433-1438), nem o próprio Infante D. Pedro, durante a regência (1440-1446) na menoridade de D. Afonso V, a tivessem levado a cabo. Foi um particular e por motivos piedosos, como particulares e piedosos foram grande parte dos instituidores dos Colégios de Oxford e de Paris, quem lhe deu um começo de execução: Diogo Afonso Mangancha, doutor in utro que jure, mestre em Artes e lente de Leis no Estudo de Lisboa.
Diogo Afonso havia casado em primeiras núpcias com Branca Anes, a qual, ao falecer, lhe legara os seus bens com a condição de que todos os bens do casal fossem aplicados à fundação de um colégio. Casou mais tarde com Maria Dias, que lhe sobreviveu. De nenhum dos matrimónios teve descendência, e talvez por esta razão, no seu testamento de 9 de Dezembro de 1447 determinou que “todos nossos beens fossem estatuidos, e hordenados para um collegio, ffeito nas nosas casas da morada da beira de Sam Jorge”, em Lisboa. O testamento foi aprovado e publicado em 8 de Janeiro de 1448, a requerimento de sua viúva Maria Dias e de outras pessoas, e desde então, segundo parece, o colégio começou a funcionar.
Segundo o testamento, simultaneamente instrumento e regimento da fundação, o colégio comportaria dez colegiais “pobres de todo”, e quatro servos, devendo ser recebidos pela primeira vez 10 escolares já gramáticos, com mais de 16 anos, e se fossem sacerdotes, ainda que não tivessem o ato de gramática e a aprendessem, deviam ser aceites por eleição da Universidade e de Maria Dias, sem interferência do rei, de um arcebispo ou de qualquer outro “poderoso”. O colégio ficava sob a fiscalização da Universidade, à qual prestariam contas o reitor e o escrivão, que deviam ser colegiais.
Além dos bens para o sustento do colégio, Diogo Afonso legou os seus livros com os quais se formaria “huma livraria per cadeas”, e determinou que todos os dias em que não houvesse lição um dos 10 colegiais diria missa na capela do colégio, oficiada pelos companheiros, se soubessem, por alma do instituidor e de suas esposas, e que se não dessem promessas de lugares no colégio, mesmo da parte do papa, do rei ou da universidade. Cuidara ainda o benemérito fundador do regimento interno, estatuindo que haveria apenas duas refeições diárias, e que cada colegial tivesse sua câmara com leito de madeira e “estudo”, isto é, escrivaninha, não lhes devendo ser consentida a posse de “azémola ou besta”.
A fundação foi executada, e o colégio, portanto, teve começo de vida; mas ou por insuficiência das rendas, por malquerenças da Universidade ou por desordem interna, o certo é que a sua vida foi curtíssima. Por uma escritura lavrada em 4 de Julho de 1459 a Universidade emprazava já umas casas sitas a S. Jorge, que eram as casas do colégio do Dr. Mangancha, anexadas pelo rei ao Studo para nelas se edificar uma capela. A dez anos e meio da fundação, o colégio desaparecia, incorporando-se os seus bens na Universidade; e com o seu desaparecimento amputou-se uma forma de vida universitária, que a desenvolver-se teria imprimido uma feição diversa ao ensino superior em Portugal. Mais tarde, depois da transferência da Universidade para Coimbra, em 1537, surgem-nos de novo os colégios; porém, mais como aposentadorias, que instituições a um tempo científicas e de residência.
O Infante D. Henrique, como protetor da Universidade, nem realizou o plano renovador proposto por seu irmão, o Infante D. Pedro, nem amparou a iniciativa do Dr. Mangancha; contudo, o seu nome é inseparável da história das reformas universitárias, material e cientificamente.
Materialmente, instalou de uma forma condigna o Estudo. As casas da Moeda Velha, haviam-se tornado insuficientes, se é que o não foram sempre, de tal forma que “non tijnha casas proprias em que leessem e fezessem seus atos scolasticos de todas as ciencias, ante andava sempre per casas alheas, e de aluguer, como cousa desabrigada e desalojada”. Estas palavras são do Infante D. Henrique; e compreende-se que perante tão mísera situação os seus deveres de protetor o exortassem a instalar convenientemente o Estudo. Em 12 de Outubro de 1431 adquiriu umas casas na freguesia de S. Tomé, que era o bairro dos escolares, doando-as no mesmo dia à Universidade, por entender “que se a dita universidade tevesse morada e casas de seu, que esto seria azo de mais seu assessego, e firmidõe pera os ditos Regnos sempre em si terem sabedores assi pera defenderem a santa fee catolica, como os beens temporaes, ainda pera saude dos corpos, e pera todos outros boons insinos, e crecerem sempre em elles”.
Mais importante, porém, que a nova instalação da Universidade, na qual se conservou até ao reinado de D. Manuel, foi o aumento das cátedras universitárias. Ao doar as casas à Universidade, o Infante não curou apenas de instalar as cátedras existentes. Como ele próprio declara, comprara-as “pera se em ellas auer de ler de todas as sciencias aprovadas pella Santa Madre egreja” —, quer dizer, ampliava as instalações, porque aumentava de par o quadro das disciplinas, por forma que o Estudo lisbonense se tornasse similar das Universidades da Cristandade. E assim é que desenvolvendo o seu pensamento no instrumento de doação, declara que passarão a ensinar-se:
1.° — As sete artes liberais — isto é, Gramática, Lógica, Retórica, as quais formavam o Trivium, e Aritmética, Música, Geometria e Astrologia (Astronomia), que constituíam o Quadrivium. As artes deviam ser lidas em três salas diversas: a Retórica e o Quadrivium, “em a casa pequena, que está a par da grande terrea, cujas Portas saem á crasta, e tem pintadas as sete artes liberais”; a Gramática, “que he de grande rroido”, “na casa de fóra, que he das pertenças das ditas casas”; e a Lógica, “na logea, que se corre também de fóra per o quintal”. A referência ao ruído no ensino da Gramática, iniciado em geral pela aprendizagem das primeiras letras, revela-nos que o método então seguido era o das repetições em voz alta, senão em coro, o que naturalmente aconselhava que a sala destinada ao seu ensino estivesse afastada das classes em que o mestre tão-somente preleccionava ou lia.
2.° — A Medicina, lida “na outra loja parede em menos” com a de Lógica, “que se corre pera dentro”. Nesta sala se pintaria o retrato de Galeno (Gualliano).
3.° — A Teologia, cuja sala devia ter uma pintura representando “a santa Trijndade”.
4.° — Direito Canónico (Degretaaes).
5.° — Filosofia Natural e Moral.
6.° — Leis.
Para o ensino das três cátedras de Direito Canónico, Filosofia e Leis destinara as salas do “sobrado” ordenando que se decorassem, respetivamente, com as pinturas de um Papa, de Aristóteles, e de um Imperador.
Determinou ainda o Infante que se reservasse “a sala grande”, onde se colocariam uma cadeira e bancos, para “os atos solenes”, e que na casa pequena, à esquerda desta sala, morassem o bedel e o “caseiro”. Este tinha a seu cargo o serviço da limpeza, da abertura das classes, e da sineta, “aguai se tanja quando ouverem de fazer conselho ou algum trautado commum”.
Se bem conduzimos as investigações e não erramos no juízo, salta à vista que o Infante D. Henrique fez uma verdadeira reforma universitária, porque, conservando as cátedras existentes, completou o ensino das artes liberais e criou o da filosofia natural e moral, ou por outras palavras, da filosofia de Aristóteles. Ensinava-se de há muito a Gramática, a Retórica e a Lógica, isto é, o Trivium, ou ensino de Letras; porém, o Quadrivium (Aritmética, Geometria, Astronomia e Música), essencialmente científico, não tivera até então a consagração oficial. O Infante não reorganizou a Universidade, como já dissemos, de harmonia com os planos de seu irmão o Infante D. Pedro. Preferiu o caminho de melhorar o existente, não alterando a organização tradicional; porém, à sua influência e liberalidade se deve a introdução das disciplinas científicas no quadro dos estudos universitários. Por um lado, elevava a Universidade de Lisboa ao plano das Universidades completas do Continente; e por outro, era coerente com as suas preocupações científicas pessoais, orientadas predominantemente para a Natureza. Enquanto os irmãos, D. Duarte e D. Pedro, se compraziam na reflexão moral, política e filosófica, D. Henrique, promotor dos descobrimentos marítimos, amava o estudo científico da Natureza, sobre a qual escreveu um livro — Secreto de los Secretos de Astrologia—, infelizmente perdido, e que os eruditos Fernando Colombo (1525) e Gonzalo Argote de Molina possuíram.
O Dr. José Maria Rodrigues, no estudo citado, duvida que o Quadrivium tivesse sido ensinado durante o protetorado do Infante. A dúvida é fundada, pois não existem documentos comprovativos. Inclinamo-nos, porém, a admitir que ele passou do programa à realidade, não pela autoridade de H. Major que assegura ter existido em 1435 uma cadeira de Matemática, mas porque ele representava um aspeto fundamental na preparação científica dos descobrimentos.
Em nosso entender, D. Henrique não fez tão somente uma doação. Realizou uma verdadeira reforma universitária, da qual a doação foi a condição material, e cujo alcance desejou perpetuar, determinando no referido instrumento de doação que a Universidade fosse anualmente, a 25 de Março, encomendá-lo a Deus, à igreja de Santa Maria da Graça, onde haveria missa solene e uma pregação em latim. Foi este o primeiro préstito universitário de que há notícia. Mais tarde, em 25 de Março de 1448, estabeleceu uma pensão anual de dez marcos de prata para manter a cadeira de Prima de Teologia, que posteriormente, em 1460, no ano do seu falecimento, elevou a doze marcos, os quais deviam ser pagos da primeira renda dos dízimos da Madeira por todos os mestres e governadores da Ordem de Cristo, que lhe sucedessem. Entre as obrigações que cometeu ao lente de Prima de Teologia figura a de recitar anualmente uma oração na abertura dos cursos, a qual deu origem à chamada oração de Sapientia.
Pelo que havemos dito, o ano de 1431 marca uma fase nova na vida da Universidade de Lisboa. Assinala-o a doação, se não verdadeira reforma, do Infante D. Henrique, e assinala-o ainda a promulgação dos primeiros estatutos universitários de que há memória, a qual talvez tivesse concorrido para ditar ao Infante a oportunidade da sua liberalidade. Os estatutos foram organizados pela Universidade, sendo reitor o doutor Vasco Esteves, vigário de S. Tomé, e foram jurados na Sé de Lisboa em 16 de Julho de 1431, para o que se reuniram, por aviso do bedel Afonso João, além do reitor, os arcediagos Estêvão Afonso, doutor em Cânones, e Afonso Rodrigues, doutor em Leis, e o doutor Diogo Afonso Mangancha, Gomes Pais, licenciado em Cânones, e Vicente Domingues, conservador da Universidade.
Pelo novo regimento, sobre o qual assentaram todas as reformas até aos Estatutos pombalinos e de que algo persiste ainda na tradição coimbrã, o ano letivo durava oito meses, e como era natural, nele se fixaram particularmente as condições de admissão e de colação dos graus de bacharel, licenciado e doutor nas várias faculdades.
“O grau de bacharel só era conferido aos que cursavam as aulas por três anos, e defendiam publicamente umas conclusões perante os respetivos mestres e doutores; a Faculdade procedia depois ao julgamento de suficiência em costumes e literatura dos candidatos; se estes não obtinham maioria de votos, deviam repetir os cursos até serem julgados suficientes. Admitiam-se também ao grau de bacharel os escolares das universidades estrangeiras que, depois de cursarem um triénio, faziam um curso bienal de leitura com permissão dos mestres respetivos; ou que frequentavam um quinquénio as aulas e liam três lições sucessivas com vénia dos lentes. A estas lições, em teologia, devia assistir sempre o lente privativo. Em ambos estes casos dispensavam-se as conclusões. O grau conferia-se com o mesmo cerimonial, que hoje (1853) se pratica. Por este ato eram os bacharéis obrigados a dar luvas aos reitores, e a todos os lentes e doutores, e a pagar para a arca da Universidade uma coroa [moeda que valia até ao tempo de D. Manuel 216 réis], e o máximo de três, e igual propina tinha o lente presidente e o bedel.
“Só bacharéis podiam ser admitidos ao ato de licenciado (examen ad licentiam doctoralem vel magistralem), mas era mister cursar as aulas quatro anos, e defender umas conclusões, que se afixavam cinco dias antes nas escolas, e sobre as quais podiam argumentar todos os doutores que quisessem. Dispensavam-se as conclusões aos que depois de cinco anos de frequência, liam por quatro anos na Universidade e eram examinados pelo lente respetivo. No julgamento destas provas exigia-se mais que o simples grau de Suficiência. O ato de licenciado fazia-se na igreja da Sé com assistência dos lentes, reitores e cancelário, os quais pela manhã assinavam dois pontos ao licenciando, e depois de vésperas se fazia o ato, em que argumentavam os licenciados, quando faltavam os mestres e doutores; findo este, procedia-se à votação e, se o licenciando era aprovado, o cancelário lhe conferia o grau. No fim do ato ou depois do grau servia-se uma refeição aos lentes e reitores à custa do licenciando, que devia pagar três coroas para a Universidade e outras tantas ao presidente (patrino) e a cada doutor uma coroa.
“Antes do doutoramento, que em teologia se chamava magistério, faziam os licenciados um ato solene a que, por ser na véspera do doutoramento, se dava o nome de vespérias, que consistia numa questão proposta pelo presidente, e sobre a qual argumentavam ao doutorando quatro doutores, no fim recitava o presidente uma oração, e o vesperisando dava uma colação aos mestres e mais pessoas que o acompanhavam de casa até à Universidade. No dia seguinte pela manhã ajuntava-se a Universidade com as suas charamelas e trombetas à porta do doutorando, e daí o acompanhava até à catedral, onde se celebrava uma missa do Espírito Santo, finda a qual se conferia o grau do mesmo modo, com pouca diferença que ainda hoje se usa. Antes, porém, do doutoramento tinha o doutorando obrigação de dar ao lente, que servia de padrinho, e ao bedel, um vestido completo; e a todos os lentes, reitores e cancelário se repartiam naquele ato barretes e luvas; os lentes da faculdade tinham além disto fains; e aos oficiais da Universidade e pessoas nobres, que se achavam presentes, também se davam luvas. O novo doutor devia dar um jantar a todos os lentes e oficiais da Universidade, e no dia seguinte faziam os escolares com ele uma cavalgada pela cidade, e iam assistir às vésperas em Santa Maria da Sé.
“Os bacharéis, licenciados e doutores, ou mestres, prestavam juramento ao receber de cada grau; a fórmula deste juramento diversificava segundo os graus. Estatuíra-se também a precedência, que entre os mestres, licenciados e bacharéis devia haver, quanto às lições, que liam na Universidade, e aos salários, que por elas lhe competiam.
“O vestido académico fora objeto de um título especial nestes estatutos, prescrevendo-se que o dos lentes, licenciados e bacharéis fosse talar, e o dos escolares um pouco mais curto. Para evitar as diversões da mocidade estudiosa, e outros descaminhos com que podia perverter-se, determinara este estatuto, que os escolares não tivessem consigo cavalos, jumentos, cães, nem aves para caçar, nem meretrizes” (José Maria de Abreu, Memórias Históricas da Universidade de Coimbra, em O Instituto, vols. I e II).
Elaborando e aprovando estes Estatutos, a Universidade usara, com pleno assentimento do rei, da autonomia tradicional e de par conquistara uma posição soberana, que quase a conduziria ao monopólio do ensino.
As escolas claustrais, a partir do momento em que a Teologia entrou no quadro das disciplinas universitárias, não podiam já arrebatar-lhe a influência que o ensino da Sacra pagina, do Mestre das Sentenças e de S. Tomás conferia. Como em todas as universidades da Idade Média é possível que franciscanos e dominicanos lutassem pela conquista da cátedra de Teologia do Estudo de Lisboa. É possível, dizemos, porque nos faltam testemunhos; porém, não só admitimos, como somos levados a crer que triunfaram em Portugal, como aliás em quase todas as universidades do Ocidente, os dominicanos. Só assim se explica, em nosso parecer, que os franciscanos tivessem solicitado e alcançado em 1453 uma bula de Nicolau V, pela qual os estudos do convento de Lisboa foram incorporados na Universidade e se podiam graduar nela, segundo os Estatutos, os mestres, leitores e estudantes do referido convento. Desta forma conservaram a independência da sua escola claustral e a liberdade de orientação teológica, alcançando ao mesmo tempo para os seus mestres e alunos os privilégios, que só a integração na Universidade conferia.
Seja ou não exata esta interpretação, a bula de Nicolau V testemunha a ascendência progressiva da Universidade na ordem científica; mas se ela, por este lado, se fortalecia, por outro lutava incessantemente com a insuficiência das suas rendas, cuja maior parte procedia das igrejas que lhe haviam sido anexadas.
Os interesses do clero, assim como o protesto contra o usufruto de rendas eclesiásticas por parte de um organismo que se subtraía à tutela da Igreja, suscitaram, como vimos já, um pleito interminável com a Universidade. Periodicamente se reavivava, pouco ou nada o moderando a intervenção pontifícia. Recorria-se então a outros expedientes. Assim quando se reconheceu haver-se tornado letra morta a bula de Pio II (Abril de 1461), a qual impunha perpétuo silêncio nos litígios e confirmava a concessão das rendas de uma igreja em cada bispado do reino, estabelecida pela bula de João XXII, o rei D. Afonso V solicitou do papa Sixto IV que anexasse à Universidade uma conezia em cada uma das Sés do reino e que os arcebispos e bispos, em cujas escolas catedrais não houvesse bons mestres de Gramática e Lógica, concorressem também com a renda correspondente a um canonicato. O pontífice deferiu a pretensão por bula de 20 de Dezembro de 1474; mas dois anos depois revogava-a, porque, orientados pelo arcebispo de Lisboa D. Jorge da Costa, o famoso Cardeal Alpedrinha, os prelados e cabidos do reino lhe representaram a diminuição do culto com o desvio das rendas. Não podendo aumentar, nem sequer manter, os seus recursos, compelida a apelar para o rei, a Universidade pouco a pouco foi desfigurando a sua fisionomia medieval, convertendo-se num organismo diretamente subordinado ao poder régio. Ao elaborar e aprovar os seus estatutos, em 1431, a “Universidade do Estudo de Lisboa”, a despeito da criação de magistraturas novas, fazia uso de uma autonomia indiscutida. O princípio que dera vida e fora um dos alicerces da corporação medieval mantinha-se; porém, a partir do falecimento do Infante D. Henrique em 1460, à medida que a autocracia real se ia radicando na administração e nos espíritos, pelas ideias de letrados e juristas, alguns dos quais, porventura, mestres do Estudo, assiste-se à sua destruição progressiva. O primeiro assalto foi dado por D. Afonso V.
Em 1450, o rei-cavaleiro, que tanto prezava a cultura literária e tão notavelmente desenvolvera a livraria real, “considerando como a sciencia e a sabedoria é tam virtuoso dom que coisa alguma a ela não pode ser comparada e que em muitos reinos há Estudos de muitas sciencias de que se segue serviço a Deus e muito proveito ao prol comum”, resolveu fundar uma nova universidade em Coimbra, “nas escolas que estão junto com os nossos paços dela”, isto é, no local da atual Faculdade de Letras, com os mesmos “privilégios e liberdades que tem o nosso Estudo que está... em Lisboa”. Não passou de simples projeto o intento régio, apesar de na carta de fundação da nova Universidade, datada de Sintra a 23 de Setembro de 1450, a dotar com treze mil reais brancos anuais; e anos depois, esquecido já desta determinação, cujos motivos de suspensão nos são desconhecidos, não hesitava em patrocinar a incompetência, de certos candidatos ao ensino, aliás reconhecida, e em atentar contra os foros tradicionais da Universidade.
Ao prover algumas cátedras, escrevera a seu irmão, o Infante D. Fernando, sucessor de D. Henrique no Protetorado da Universidade, “para que as provesse em alguns sujeitos, os quais eram de tão pouca suficiência, que muitos dos que aprendiam davam dinheiro a quem particularmente os ensinasse, e não iam ás Escolas” (F. Leitão Ferreira, Notícias Cronológicas da Universidade de Coimbra, I, p., § 814). A Universidade, ou pela consciência das suas regalias tradicionais ou por decoro, representou energicamente contra este atentado aos seus direitos, respondendo-lhe o rei, por carta de 13 de Abril de 1463, que não faria mais provimentos, “e que quando por importunidade dos requerentes os fizesse, lhe aprazia que o dito Infante seu irmão os não cumprisse, e assim lhe escreveu” (Leitão Ferreira, ob. cit.). Mestres e estudantes foram solidários no protesto; e se em 1463 conseguiram demover o rei, poucos anos depois, em 1476, a majestade real, talvez com fundamento, erguia-se em face da Universidade como poder que impõe obediência e coarta os privilégios consuetudinários. Pretendia o Estudo rever ou corrigir o seu regimento, e por carta de 12 de Julho de 1476, dirigida a D. Rodrigo de Noronha, bispo de Lamego e então Protetor da Universidade, estranha que a Universidade interprete os Estatutos, o que lhe não consente, ordenando ao Protetor que os faça observar e cumprir.
Este diploma, que definitivamente cerceou a autonomia pedagógica do Estudo, merece ainda por outro título a nossa atenção. Desde o início, como tudo indica, a Universidade tivera sempre dois reitores eleitos anualmente pelos escolares. D. Afonso V respeitou a tradição secular, mas por alvará de 21 de Julho de 1471 determinou uma nova forma de eleição. No começo das aulas, “reuniam-se os estudantes da escola de Cânones, e prestando juramento nas mãos dos reitores do ano antecedente, perante o bedel, escolhiam quatro estudantes da dita escola, dos mais graves pela idade, ciência, compostura de costumes, para deles se eleger um reitor. A escola de Leis fazia de per si outro tanto. Concluída esta primeira eleição, todos os escolares, lentes e conselheiros, elegiam dentre os candidatos propostos pelas duas escolas dois, que haviam de servir de reitores, um por cada uma delas.
“Feita a eleição dos reitores reuniam-se os escolares de cada escola, e elegiam dois dos mais antigos e mais sabedores dentre eles, os quais naquele ano serviam de conselheiros. Os escolares também escolhiam as matérias que os lentes deviam ler pelo ano adiante. Assim todo o governo da Universidade residia no corpo escolar, que só recorria ao chefe supremo do Estado para obter dele novos privilégios ou o aumento das suas rendas. As duas faculdades de Cânones e Leis ainda então constituíam a parte principal do Estudo Geral.
“A Teologia e a Medicina tinham apenas uma cadeira, e não gozavam os privilégios das outras faculdades na eleição dos reitores, mas nomeavam conselheiros como as duas primeiras. Em todo este sistema predominava o princípio da eleição pelos escolares, e os lentes eram estranhos ao regime da Universidade, que lhes pagava salário pelas lições que liam nela” (José Maria de Abreu).
Cinco anos depois, a Universidade requeria ao rei que de futuro apenas fosse eleito um reitor. Desconhecem-se as razões, mas pela mesma carta em que D. Afonso V coartava a autonomia tradicional, cometia a resolução deste assunto ao Protetor e à Universidade. As duas entidades celebraram um acordo cujo instrumento nos é desconhecido. Parece, no entanto, que a Universidade viu aprovado o seu requerimento.
Desde este ano, a Universidade, como herdeira e continuadora dos foros tradicionais de autonomia pedagógica, tornou-se uma sombra do que fora.
Frustradas todas as tentativas de independência económica e impossibilitada de se adaptar espontaneamente às necessidades novas da cultura renascente, que dealbava, tudo concorria para a vincular decisivamente ao poder e arbítrio real, conquistando em renovação científica e em estabilidade o que perdia em independência.
Começa então uma fase nova da sua história, cujo instaurador foi D. Manuel e artífice supremo D. João III.
Pouco ou nada sabemos da atividade científica e dos métodos de ensino da Universidade de Lisboa durante o século XV. A sua história é anónima e obscura; e por isso não surpreende que os amantes do saber e da ilustração procurassem além-fronteiras o que o Estudo lhes não oferecia. D. João II, em data incerta, mas talvez meses antes de morrer, (1495), recusou-se a nomear os opositores que tinham concorrido às cátedras de Prima. e Véspera de Leis, ordenando que se provessem estas cátedras em lentes que viessem de Salamanca. Foi o primeiro ataque direto contra a estagnação científica do Estudo; indiretamente, porém, de há muito, e sobretudo no reinado do Príncipe Perfeito, se estabelecera a emigração escolar para alguns centros do estrangeiro. Paris atraía os teólogos; a Itália, os juristas e os estu-diosos das Humanidades.
Florença, a cultíssima e platonizante cidade dos Médicis, foi a cidade preferida, e dos mestres florentinos, Angelo Policiano. Em 1489 ouviam-lhe as lições os três filhos do chanceler-mor João Teixeira, um dos quais Luís Teixeira Lobo, mais tarde mestre de D. João III, manteve na Itália “relações não menos agradáveis que amistosas” com Erasmo; e seus discípulos foram também João Rodrigues de Sá Meneses, Martinho de Figueiredo, Henrique Caiado, que em Pádua conviveu na roda de amigos e compatriotas de Copérnico, e Aires Barbosa, condiscípulo de João de Médicis, o futuro papa Leão X, e a cujo magistério em Salamanca a Espanha ficou devendo a introdução do helenismo. Com D. Manuel a emigração muda de rumo, dirigindo-se para a França. Foi o Venturoso quem concedeu as primeiras bolsas de estudo pagas pelo feitor da Flandres; e, levando mais longe a liberalidade, estabeleceu no Colégio parisiense de Montaigu uma fundação de 1300 libras, em 1498, impondo várias obrigações, entre as quais a de se reservarem perpetuamente lugares para dois escolares pobres portugueses, alojados em quartos independentes, e cujas portas exibiriam as armas de Portugal. Esta grande obra renovadora, que D. João III dilatou notavelmente e condicionou a reforma universitária do seu reinado e o desenvolvimento da Renascença em Portugal, traduziu-se inicialmente pela criação de um meio intelectual hostil à vida obscura da Universidade.
D. Manuel foi o primeiro intérprete das vozes discordantes, efetivando uma reforma para a qual não ouviu a corporação universitária e fazendo até a declaração, jamais ouvida, de que de futuro só o rei ou o protetor da Universidade poderiam ditar novos estatutos, quando lhes parecesse necessário ou fosse requerido pelos escolares. Pelos estatutos manuelinos, cuja data é desconhecida e a crítica de há muito fixa entre 1500 e 1504, o plano de estudos, a administração escolar e a disciplina académica foram reorganizados.
As cátedras ordenaram-se segundo o seguinte plano:
a) Faculdade de Teologia: Cátedras de Prima e de Véspera, respetivamente com o salário de 12 marcos de prata e 20 mil reais.
b) Faculdade de Cânones: Cátedras de Prima, Véspera e Terça, com os salários de 30 mil reais, 20 mil reais e 10 mil reais.
c) Faculdade de Leis: Cátedras de Prima, Véspera e Terça, com o salário de 30 mil reais, 20 mil reais e 10 mil reais.
d) Faculdade de Medicina: Cátedras de Prima e Véspera, respetivamente com 20 mil reais e 15 mil reais.
e) Artes: Cátedras de Gramática, com 10 mil reais; Lógica, com 10 mil reais; Filosofia Moral, com 20 mil reais.
Do confronto deste plano de ensino com o estabelecido em 1431 pelo Infante D. Henrique resulta, pelo menos, a inovação da Cátedra de Véspera de Teologia e o desdobramento da cátedra de Filosofia Natural e Moral criada pelo Infante.
Posteriormente, em 1518, D. Manuel criou as cátedras de Sexto das Decretais, na Faculdade de Cânones, e a de Astronomia, na de Artes, a qual tinha uma aula semanal e foi dotada com o ordenado de 8 mil reais.
Os estatutos não contêm um título sobre os livros de texto; porém, por algumas referências relativas à licenciatura e por outras fontes pode assegurar-se que se leram nos primeiros tempos da reforma, os seguintes: em Teologia, os Sententiarurn libri quatuor de Pedro Lombardo, o Mestre das Sentenças, e talvez a Escritura; em Cânones, as Decretais; em Leis, o Corpus juris civilis e o Digesto; em Medicina, Avicena e Galeno, e nas Artes, a Arte de Pastrana em Gramática, as Súmulas Lógicas de Pedro Hispano, em Lógica, a Metafísica e a Ética a Nicómaco de Aristóteles, em Filosofia Natural e Filosofia Moral.
O método de ensino era o método tradicional ou escolástico. Diariamente, durante uma hora, salvo os de Prima que liam hora e meia, os lentes liam, explicavam e comentavam o texto da sua cátedra, e quando terminavam a aula, “descendo da cadeira”, aguardavam as dúvidas e perguntas dos estudantes, às quais lhes cumpria responder.
Periodicamente, ou talvez quando o mestre entendesse, havia exercícios de repetição e quodlibetos, os quais não tinham em rigor o carácter do que na linguagem atual se designa por chamada.
Por uns e outros, sem dúvida, o mestre se inteirava do aproveitamento dos alunos; porém, destinavam-se especialmente a avaliar o grau de agudeza dos alunos, mediante a proposição e resolução de argúcias e dificuldades em torno da compreensão dos textos.
As aulas começavam “hum dia depois de Sam Lucas”, em 19 de Outubro e continuavam “até Santa Maria de Agosto inclusive”.
Durante este tempo não havia férias. Os feriados no entanto eram frequentes, porque não se abriam as aulas nos dias de festa “que guarda a nossa Relação” e nas quintas-feiras, “como sempre se costumou”, quando caíam em semanas que não tinham festas de guarda.
No ato da matrícula os estudantes pagavam a propina de 13 reais, e posteriormente prestavam o juramento de “obedecer ao reitor em as coisas lícitas e honestas”, sem o qual não poderiam frequentar o Estudo.
Segundo os estatutos não podiam entrar nas aulas com armas, deviam andar “honestamente vestidos e calçados”, isto é, não trazer “pelotes, nem capuzes, nem barretes, nem gibões vermelhos, nem amarelos verdegai, nem cintos lavrados de ouro, sob pena de perderem os ditos vestidos, a metade para o bedel e a outra metade para a guarda das escolas”, e era-lhes proibido “ter em sua casa mulher suspeita continuamente”.
A Universidade conferia três graus — bacharel, licenciado e doutor.
Para o bacharelato em Artes exigiam-se dois cursos de Filosofia Natural e um de Lógica, os quais se faziam durante três anos. O candidato provava a frequência anual com testemunhas, que juravam perante o bedel, que servia de escrivão do Estudo, e o reitor ou o mestre que o devia graduar. Dispensava-se esta prova, podendo consequentemente receber o grau, quando o mestre jurava que o candidato era suficiente, apesar de não ter completado os cursos.
Neste caso, o candidato era obrigado a ler previamente três lições disputadas, “apontadas de um dia para o outro”. O grau de bacharel em Teologia, Cânones e Medicina exigia a frequência de cinco anos nas respetivas Faculdades, não podendo os teólogos e médicos requerer o grau sem serem bacharéis em Artes. Os estatutos são omissos relativamente aos legistas; é verosímil, porém, que estivessem sujeitos às condições dos canonistas.
As provas de bacharelato consistiam numa lição seguida de “disputa” ou discussão. O grau conferia-se com solenidade, decorando-se o geral da Universidade com “panos finos por honra do ato”. O reitor, mestre e o bedel, “com sua maça”, iam buscar o graduando a sua casa, se ele vivia no bairro das escolas, a S. Tomé, acompanhando-o “honradamente” ao edifício da Universidade. O ato iniciava-se com uma “arenga” do candidato, à qual se seguiam a lição e disputa. Terminadas as provas, se fosse artista, médico ou teólogo, pedia o grau ao padrinho com outra arenga e dava luvas ao reitor, mestres presentes e ao padrinho, que recebia ainda um barrete. Conferido o grau, o novo bacharel “dava graças a Deus e aos presentes”, e era acompanhado com o mesmo cerimonial à “sua pousada donde o trouxeram”.
O bacharel em qualquer faculdade, além das propinas de luvas, pagava para a arca do Estudo uma dobra de ouro e outra para o bedel.
Os graus de licenciado e doutor reclamavam outras provas e conferiam-se com diverso cerimonial.
Só podia ser licenciado quem fosse bacharel, e para além desta condição geral havia exigências especiais. Assim, para a licenciatura em Artes o candidato cursava durante um triénio, um ano de Lógica e dois de Filosofia Natural, e para as de Teologia, Cânones, Leis e Medicina quatro anos, ouvindo diariamente as respetivas cátedras de Prima, sem o que lhe não era validado o curso. Terminado o curso, o licenciado fazia ato público de repetição, respondendo aos que quisessem arguir, e defendia conclusões ou teses, que livremente escolhia e se propunha sustentar. As teses eram comunicadas por escrito, com dois dias de antecedência, ao bedel, que, por seu turno, as comunicava aos lentes. A repetição e a defesa de teses não eram seguidas de votação; parece, por isso, que se consideravam como atos de ostentação.
A prova pública seguia-se o exame privado, com votação. Era a prova decisiva. No dia marcado, de manhã cedo, ia o bacharel-licenciando, acompanhado do padrinho, do bedel e dos amigos, à Sé, ouvir missa do Espírito Santo, finda a qual o cancelário da Universidade procedia à tiragem dos pontos das lições. Para este fim, abria ao acaso, em três lugares diversos, dois livros de texto, podendo o candidato escolher, dentre os seis pontos, um de cada texto.
Os estatutos determinaram as disciplinas, e por vezes o texto, sobre que recaíam as lições. Assim, em Artes, o licenciando fazia uma lição sobre Lógica, sem dúvida as Súmulas de Pedro Hispano, e outra sobre Filosofia Natural, isto é, como supomos, a Metafísica de Aristóteles; em Medicina, uma sobre o livro de Avicena, “outra na arte”, isto é, o Tegne de Galeno, tratado de terapêutica adotado em todas as escolas da Idade Média; em Leis, uma sobre o Código e outra sobre o “Digesto velho”; em Cânones, uma sobre as Decretais e outra “no Decreto”, e em Teologia, duas lições em dois livros diversos das Sentenças de Pedro Lombardo.
Fixado o assunto das lições, que era comunicado aos arguentes pelo bedel, o candidato tinha dois dias “de ponto”, para empregar a expressão dos estatutos usada ainda hoje na linguagem escolar, cumprindo-lhe enviar num destes dias, ao reitor, bedel e a cada mestre ou doutor — não sabemos se só aos arguentes — uma canada de vinho branco, outra “de vermelho bom”, e uma galinha, e ao cancelário e padrinho o dobro destas propinas. Na arte do segundo dia de ponto, o reitor, mestres e doutores da Faculdade “e assi toda a Universidade”, com seus hábitos, precedidos do bedel, “com sua maça”, dirigiam-se a casa do candidato para o acompanharem “ordenadamente” à Sé, onde prestava as provas, que deviam começar um pouco antes do sol-posto.
frente do cortejo marchavam moços “com tantas tochas quantas são necessárias”, — ou fossem duas para o cancelário, duas para o padrinho e uma, respetivamente, para o reitor, bedel, mestres ou doutores, da Faculdade, os quais recebiam ainda “uma caixa de confeitos”. Chegado o cortejo à Sé, no lugar destinado com “suas mesas aparelhadas para isso com livros e castiçais com suas velas”, começava o ato, que era privado. Só assistiam o cancelário, reitor, bedel e os mestres e doutores da Faculdade.
Seguidamente o candidato fazia as duas lições, cada uma de uma hora, findas as quais saía da sala para se disporem os argumentos e servir aos presentes uma “consoada honrada e honesta... na qual pouco se deterão”.
Chamado de novo o candidato, que se sentava ao lado do padrinho, tinham então lugar os argumentos ou críticas às lições, arguindo primeiro o doutor mais novo e depois os restantes pela ordem de antiguidade. Terminados os argumentos, o candidato retirava-se, indo “para sua casa honradamente com seus amigos”, e procedia-se à conferência sobre o valor das provas, seguida de votação secreta. Para este efeito o bedel distribuía a cada um dos mestres e doutores dois papéis com um A. e R. grandes, recolhendo os votos num barrete. Os votantes lançavam a letra que entendiam, rasgando a outra “em tal maneira que se não possa ler nem conhecer”. O barrete era entregue pelo bedel ao cancelário, o qual contava os votos e anunciava a aprovação ou reprovação. Lavrado logo o auto da votação, cumpria ao cancelário remeter “certamente” ao candidato os papéis dos votos, costume que ainda hoje se pratica, por vezes, na Universidade de Coimbra. Na manhã do dia seguinte, o licenciando ia a casa do cancelário, o qual reunia o padrinho e os examinadores, e perante todos, “em segredo”, louvava ou repreendia o candidato, exortando-o a “mais estudar se for necessário ou de não receber mais grau perpetuamente ou por tempo limitado”.
A “pendença” do cancelário exarava-se no livro do bedel ou escrivão. Se o candidato era aprovado, os presentes, “em hábito e aparato”, dirigiam-se à Sé, para assistirem à investidura do grau. O graduando solicitava-o e colocando-se de joelhos, o cancelário conferia-lho, fazendo um pequeno discurso e pondo-lhe o barrete ou borla na cabeça.
Além das propinas referidas, o licenciando pagava para a arca da Universidade três dobras de ouro e dava, à sua escolha, ao bedel, uma “loba de pano fino de seis côvados” ou dois mil reais. Quando o conselho da Faculdade considerava o candidato “suficiente” poderia dispensá-lo, a seu requerimento, da frequência dos cursos de licenciatura. O conselho devia ponderar a idade e tempo de estudo do requerente, concedendo-lhe a dispensa depois de ter feito com aprovação três lições sobre assunto marcado, arguidas pelos que o quisessem fazer.
O doutoramento, grau essencialmente académico, dava ensejo à mais solene e aparatosa das cerimónias universitárias.
No dia designado, de manhã, dirigiam-se os mestres, doutores, escolares e amigos a casa do doutorando, “o qual irá vestido de uma roupa roçagante com seu capelo vestido e sem barrete, e se for frade em seu hábito”, para o acompanharem à Sé, onde todos ouviam missa do Espírito Santo. Finda a missa, os mestres e doutores assentavam-se “ordenadamente” segundo suas precedências, vestindo os capelos e tendo na cabeça o barrete com borla, de um e de outro lado do cancelário, que ocupava o centro e sentava à sua direita o reitor. A cor da borla variava com a Faculdade, — branca para os teólogos, “hieroglífico da pureza e virtude que devem guardar os professores desta ciência”; verde para os canonistas, “significação da castidade, de que devem ser observantes os que estudam para governar a Igreja”; vermelha para os legistas, “símbolo da Justiça que devem observar os que hão-de governar a República”; amarelo para os médicos, “significação da caridade, que devem ter os que curam os doentes”, e azul ferrete para os artistas [ou filósofos], “figura do céu e do ar, sua ocupação principal”, segundo a explicação de um cronista gongórico (Aplausos da Universidade a El-Rei D. João IV, Coimbra, 1641).
O doutorando, acompanhado de dois bacharéis ou licenciados, sentava-se em baixo, começando o ato por “uma breve lição” que era arguida primeiro pelo reitor “brevemente”, e depois por alguns mestres ou doutores da Faculdade. Terminada esta prova, que era no fundo um ato de ostentação, que não de exame científico, distribuíam-se luvas aos bacharéis, fidalgos e oficiais da Universidade, barretes aos licenciados e doutores e barretes e luvas “dobrado” ao cancelário e padrinho, e um orador, “homem honrado”, elogiava o doutoramento por suas “letras e costumes e por palavras honestas dirá alguns defeitos graciosos para folgar, que não sejam de sentir”. Finda a oração, o doutorando prestava juramento, após o qual, colocando-se “em pé no terceiro degrau em baixo do padrinho, pedirá o grau por sua breve arenga, e o padrinho louvando as letras do graduando lhe dará o grau com suas insígnias estando de joelhos ante ele, a saber, barrete com sua borla, anel e beijo na face, o que assim acabado ir-se-ão a comer e comerão com ele todos os doutores e mestres e toda a Universidade”.
O doutor em artes convidava apenas os doutores, mestres e oficiais da Universidade. Como propina do grau, o doutorando pagava cinco dobras de ouro para “a arca do Estudo” e três mil reais ao bedel, “conformando-nos com o estatuto antigo que lhe dava veste forrada”.
data da reforma manuelina, nem todos os lentes eram doutores; por isso, os estatutos determinaram que os lentes de Prima se doutorassem dentro de um ano, isentando-os do “jantar à Universidade” e das dobras para a arca, mas não dos “outros gastos declarados”.
A investidura em cada um dos graus era acompanhada de juramento. Havia pontos comuns. Todos se obrigavam a só receberem o grau imediato na Universidade de Lisboa, a obedecerem ao reitor e acompanharem “sempre a Universidade em suas procissões se não forem impedidos por justa causa”, mas para além disso, impunham-se compromissos especiais para alguns. Assim, os graduados juristas juravam que não aconselhariam nem advogariam contra a Universidade, os doutores, que defenderiam “segundo sua possibilidade a santa fé católica e a madre santa igreja e a república cristã especialmente destes reinos e cidade”, e os lentes, que leriam “fielmente aos escolares e a seu proveito”.
O provimento definitivo das cátedras e o das substituições interinas fazia-se por concurso, cujo edital se afixava à porta da Universidade durante vinte dias. Qualquer dos graus universitários habilitava ao concurso, jurando os concorrentes ou opositores, como então se dizia, que não dariam nem prometeriam por si ou por outrem dinheiro ou coisa que o valesse a outros opositores para desistirem ou aos votantes para lhes darem seu voto, sob pena de exclusão do concurso e de pagarem vinte cruzados de ouro para a arca do Estudo. Para garantia do juramento os concorrentes prestavam fiança. Decorrido o prazo de vinte dias, o Reitor indicava para cada candidato a matéria de três lições, que deviam ser feitas em dias consecutivos e podiam ser livremente criticadas pelos outros opositores. Os catedráticos não arguiam. Após as provas de todos os candidatos procedia-se à votação. Para este efeito, o bedel escrevia o nome de cada opositor em papéis separados, “em escritinhas como se antigamente costumou”, distribuindo-os pelos votantes, que eram o reitor, os lentes de todas as Faculdades, os antigos bacharéis da Faculdade que “no Estudo fizerem exercício de letras, lendo, ouvindo e não tiverem outro ofício de julgar ou procurar”, e os estudantes da respetiva Faculdade, que tivessem completado dois anos de curso e fossem assíduos. O reitor tinha dois votos. A votação fazia-se à porta fechada, na casa do conselho, e cada votante, antes de lançar num chapéu o voto e rasgar os papéis com os nomes dos que reprovava, era perguntado e jurava que o não movia a amizade, parentesco ou gratidão, e que votaria no mais letrado, lesse melhor e com mais aproveitamento dos alunos. O bedel escrevia o rol dos votantes, e em seguida contavam-se os votos. Havendo empate, era preferido o opositor que tivesse maior grau; em igualdade de grau, o que fosse mais antigo no mesmo grau, e no caso de serem ainda iguais, gozava de preferência “o de melhor geração”. Cumpria ao reitor fazer o provimento no candidato triunfante, mas o provimento definitivo carecia de confirmação régia ou do protetor da Universidade. Se ao concurso tinham concorrido indivíduos de grau diverso e o candidato aprovado era de grau inferior ao de um candidato excluído, no prazo de um ano devia tornar-se-lhe igual, prestando as provas do grau que possuía o candidato excluído mais categorizado. Assim, se um bacharel concorresse com um licenciado ou um doutor e obtivesse a cátedra, devia, respetivamente, fazer ato de licenciado ou de doutoramento dentro de um ano a contar do provimento, sob pena de privação da cátedra ipso facto. Foi para estes casos que os Estatutos previram expressamente a concessão da “suficiência”, ou dispensa da frequência de cursos.
Nos estatutos manuelinos o magistério é considerado como uma profissão digna, e tão absorvente que o lente não devia exercer qualquer outra profissão “para bem servir sua cadeira e fazer proveito aos escolares”; por isso lhes era defeso o exercício da advocacia e da judicatura sob pena de serem privados ipso facto da cátedra. Os catedráticos que fossem doutores e os lentes de Teologia, que eram designados desde tempos antigos por mestres, podiam jubilar-se com metade do ordenado, depois de vinte anos de exercício contínuo.
Na administração escolar, a reforma trouxe algumas inovações que cercearam a autonomia tradicional, pois todos os ofícios, salvo o do chanceler, careciam da confirmação do protetor ou do rei.
A Universidade manuelina tinha a seguinte organização:
a) Um Reitor, ao qual a universitas scholarum et magistrorum obedecia “como a cabeça”. A eleição dos reitores, que até então haviam saído quase sempre de entre os estudantes, pelos novos estatutos só podia recair “em fidalgo ou homem constituído em dignidade”, com mais de vinte e cinco anos. O cargo tinha a duração de um ano, e a eleição realizava-se na véspera de S. Martinho, votando apenas os conselheiros e deputados. Aos estudantes foi denegado o direito tradicional de voto, transformando-se assim a Universidade, de estudantil, que fora, num organismo burocrático com tendência cesarista e magistral. Os lentes não podiam ser eleitos reitores ou vice-reitores.
No dia de S. Martinho, à hora de Terça, perante toda a Universidade, no geral das Escolas, era anunciado o novo reitor, o qual jurava “nas mãos do velho reitor”, que “bem e fielmente usará do dito ofício e cargo quanto a humana fraqueza sofre e guardará e fará guardar inteiramente o regimento e estatutos da Universidade”. Prestado o juramento, os presentes acompanhavam o novo reitor “honradamente para sua casa”. O reitorado era gratuito, isto é, não tinha “mantimento algum”, recebendo apenas as propinas dos graduandos.
A ação do reitor exercia-se sobre toda a corporação universitária. Em relação aos estudantes cumpria-lhe vigiar pela “honestidade” deles, “em vestidos, trajos, armas e outras cousas que dão torvação a bem estudar”, e ordenar que uma vez por ano, no geral do Estudo, “no terceiro dia das outavas do Natal, depois de comer”, ouvissem ler pelo bedel os estatutos e ordenanças da Universidade; e em relação aos mestres e funcionários, vigiar pelos deveres respetivos, curando que as cátedras fossem “bem e diretamente providas e regidas pelos lentes, sobre o qual haverá informação dos conselheiros que ouvem as lições e do bedel, que de seu ofício há de visitar todos os dias as cadeiras e apontar [as faltas de] os lentes”. Juntamente com os conselheiros cumpria-lhe ainda declarar a vacatura das cátedras, resolver as controvérsias entre os lentes e estudantes sobre a matéria das lições, e apreciar as faltas dos lentes.
b) Um conselho pedagógico constituído por seis conselheiros, que serviam anualmente e gratuitamente.
A eleição dos conselheiros realizava-se, conjuntamente com a do reitor, na véspera de S. Martinho e podia recair em pessoas “de qualquer ciência”, salvo em lentes. Prestavam juramento perante o novo reitor, após o juramento deste. Exerciam com o reitor, que tinha voto de desempate, o governo pedagógico da Universidade. As sessões do conselho não podiam assistir os lentes.
c) Uma junta administrativa, formada por dez deputados, cinco lentes e cinco “pessoas honradas e discretas” da Universidade, eleitos anualmente pelos lentes no «primeiro dia que não lerem depois de S. Lucas”, isto é, no primeiro dia feriado após a abertura das aulas. A junta de deputados superintendia no governo económico da Universidade, designadamente sobre “as coisas que tocarem a bem da Universidade, assim das rendas como outras coisas de importância que não toquem às lições, reitor e conselheiros”. As suas resoluções, nas quais participavam também o reitor e os conselheiros, recaíam em especial sobre os “foros, aforamentos, cartas ou mensagens para Roma ou para El-Rei, edifícios e outros gastos grandes”. Os deputados prestavam o juramento de “procurarem e conservarem o bem e utilidade da Universidade”.
d) Um conservador, com o vencimento anual de seis mil reais, que exercia a jurisdição cível e criminal sobre os escolares, pois D. Manuel confirmou os foros académicos tradicionais.
O conservador realizava a audiência nas Escolas, às segundas, quartas e sextas-feiras, sendo punido pelo reitor se faltasse. Quando qualquer destes dias era santificado transferia-se a audiência para o dia seguinte, de sorte que houvesse sempre semanalmente três audiências. Das suas decisões havia apelação para os feitos crimes e agravo para os cíveis. Entre os processos submetidos ao julgamento do conservador avultavam, ao que supomos, as pendências sobre arrendamento de casas, pois os senhorios nem sempre se conformavam com os privilégios dos escolares, nem com as determinações dos taxadores das rendas de casas. Pelos estatutos, o ofício de conservador tornou-se inerente à cadeira de Prima de Leis, depois do falecimento do indivíduo que à data o exercia.
e) Um síndico, lugar inerente nas condições do anterior, ao catedrático de Vésperas de Leis, com o vencimento de três mil reais.
f) Um chanceler, cargo inerente ao catedrático de Prima de Leis, que o exerceria gratuitamente. Esta disposição, que não sabemos se chegou a cumprir-se, denuncia claramente o carácter regalista dos estatutos, pois desde a fundação da Universidade as funções de cancelário eram exercidas pela autoridade eclesiástica. Como veremos, D. João III modificou-a, atribuindo, por fim, o cargo aos priores gerais de Santa Cruz de Coimbra.
g) Um recebedor, com o vencimento de seis mil reis. Cumpria-lhe receber as rendas da Universidade e pagar aos lentes e funcionários “às terças do ano, dentro nas escolas”. As despesas ocorrentes deviam ser ordenadas pelo bedel e assinadas pelo reitor, sem o que lhe não seriam validadas as contas, cujo julgamento se fazia anualmente pelo reitor assistido de dois lentes, “depois de Santa Maria de Agosto até Santa Maria de Setembro”.
h) Um bedel e escrivão. Tinha aposentadoria na Universidade e o vencimento anual de três mil reais, recebendo ainda cem reais de cada lente pelos “alvarás que faz per que recebem seus salários”. Cumpria-lhe apontar diariamente as faltas dos lentes, exarando num livro, no título de cada um, se “tarde veio; pouco leu; ou não leu”. As presenças, como ainda hoje praticam os bedéis de Coimbra, registava-as com a palavra — leu.
Quando as faltas fossem continuadas devia notificá-las ao reitor. Cumpria-lhe ainda expedir os mandados do reitor aos conselheiros, deputados, lentes e a toda a corporação universitária, redigir os avisos para os atos, graus e festas, organizar o rol das festas e o da matrícula dos estudantes, e chamar “os escolares para irem enterrar os finados”. Aos acompanhamentos fúnebres, procissões e pregações, devia “concorrer toda a Universidade”, sem escusa, isto é, “sem contradição alguma”. Como escrivão tinha o encargo de redigir a acta de “todas as coisas que pertencerem à dita Universidade diante do reitor, conselheiros e deputados em seus ajuntamentos”; fazer por ordem do reitor, o traslado dos privilégios a quem os requeresse; exarar os arrendamentos; dar as quitações; organizar o livro das receitas e despesas; e escrever as cartas de graus e cursos e as epístolas que a Universidade expedisse. Pelos alvarás e cartas de curso recebia de emolumentos um real de prata.
i) Dois taxadores das casas. Tinham por encargo fixar o preço das rendas das casas alugadas aos estudantes.
j) Dois escrivães, ajudantes do conservador, sem vencimento. /) Um sacador do recebedor, com o vencimento de três mil reais.
m) Um inquiridor, sem vencimento.
n) Um solicitador e guarda das escolas, com o vencimento de seis mil reais. Tinha por obrigação chamar os lentes, conselheiros, deputados e demais indivíduos que faziam parte da corporação universitária, abrir e fechar as portas, “e castigar os moços dos estudantes que não torvem (perturbem) os lentes quando lerem”.
o) Um capelão do Estudo.
Ao amanhecer, “saindo o sol”, cumpria-lhe dizer missa, diariamente, após a qual começavam logo as aulas dos lentes de Prima.
Para concluir, resta-nos aludir aos préstitos que a Universidade de Lisboa celebrava anualmente, e nos quais se incorporavam todos os lentes e escolares.
Os préstitos tinham lugar durante o ano letivo, realizando-se nos dias seguintes:
1) Em 25 de Novembro, na festa de Santa Catarina do Monte Sinai, indo à igreja de S. Domingos, “ouvindo vésperas, missas e pregações”.
2) Em 6 e posteriormente em 5 de Dezembro, na festa de S. Nicolau, à igreja da invocação deste santo. O lente de Filosofia Natural pregava em português, para todos entenderem, “e quando for impedido por justa causa ofereça ao Conselho tal pessoa que seja do seu contentamento”.
3) Em 8 de Dezembro, na festa de Nossa Senhora da Conceição, à igreja deste nome, dos Freires da Ordem Militar de Cristo. Este préstito foi estabelecido por D'. Manuel, que para este fim concedeu quatro mil reais.
O préstito saía per modum universi, dizendo-se missa cantada e pregando o lente de Metafísica ou Filosofia Moral, que recebia três mil reais. Dos mil reais restantes, D. Manuel estipulou que se dessem por ele “um cruzado de oferta à dita missa, se comprassem velas e incenso e o que ficar será para a arca do Estudo”.
4) Em 25 de Dezembro na festa do Natal. Este préstito que fora estabelecido pelo Infante D. Henrique em 1448 e corroborado no seu testamento em 1460, saía da igreja de S. Julião para a do Convento do Salvador de religiosas dominicanas. Dizia a missa e pregava o lente de Prima de Teologia. Cada lente e estudante pagava dez reais para a arca e gastos da confraria, a qual para realizar este préstito, se fundara, segundo cremos, após a morte do Infante.
5) Em 7 de Março, na festa de S. Tomás de Aquino, o Anjo das Escolas, indo à Igreja de S. Domingos.
6) Em 25 de Março, na festa de Nossa Senhora da Anunciação, à igreja de Nossa Senhora da Graça. Foi estabelecido pelo Infante D. Henrique, subsidiando-o a Universidade com cem reais, duas velas de uma libra e uma onça de oiro. Dizia a missa e pregava o lente de Prima de Teologia.
Os préstitos dispunham-se “honesta e honradamente”, “por modo de universidade”. Era obrigatória a incorporação de todos os universitários, incluindo os antigos bacharéis que não fossem desembargadores, os quais se não justificassem a falta pagariam para a arca do Estudo três dobras de ouro. Os estudantes formavam “de dois em dois”, quase sempre sob a direção dos lentes de Gramática e de Lógica, que levavam “suas varas vermelhas”.
Nesta descrição, debuxada a traços largos, se vê que a Universidade manuelina conservara o semblante medieval. D. Manuel confirmara e robustecera até velhas tradições, e se fundadamente podemos pensar que o redator dos estatutos se socorrera das constituições da Universidade de Salamanca, o certo é que, acima de tudo, teve presente os regimentos e costumes que pouco a pouco foram modelando a vida interna do Estudo Geral fundado por D. Dinis. Além da criação de algumas cátedras, a inovação suprema destes estatutos, que serviram de base às reformas posteriores até ao marquês de Pombal e ecoam ainda nalgumas usanças da atual Universidade de Coimbra, encontra-se na afirmação expressa da autoridade real. Perante ela cessaram alguns privilégios, assim dos lentes como dos escolares, os quais a Universidade, até então autónoma, a si própria se outorgara ou havia alcançado dos reis. Daí alguns protestos, por parte sobretudo dos estudantes, protestos esses que se traduziam em reclamações contra os almoxarifes e juízes das alfândegas e portagens, pela aplicação das dízimas e portagens sobre coisas que recebiam para seu mantimento. D. Manuel, em 1515, atendeu a Universidade, mandando passar uma provisão “pela qual faz graça e mercê e há por bem que o reitor, que então era, e pelos tempos adiante fosse, visse as qualidades de cada uma das pessoas sobreditas, (isto é, dos lentes, deputados, conselheiros, estudantes e oficiais da Universidade) e as quantidades das coisas, assim das que eles trouxessem ou mandassem vir de fora, como das que lhes mandassem seus pais, parentes e amigos, para suas despesas; e segundo o que a ele parecesse, que cada um dos sobreditos havia mister para manter e sustentar sua pessoa, e toda a despesa de sua casa honestamente em qualquer mercadoria, disso mesmo ele reitor mandasse certeza a cada uma das ditas casas de alfândega e portagem; pois havia por bem e mandava que lhes não levassem dízima alguma, nem outro nenhum direito, porque assim era sua mercê, pelo desejo que tinha de aumentar e favorecer o dito Estudo; e que ficaria resguardado aos rendeiros verem se a despesa, que o reitor desse, era demasiada, porque então demandariam seu direito do que de mais fosse dado, que excedesse a despesa necessária” (Leitão Ferreira).
Ligadas ao pensamento reformador dos estatutos apresenta-nos o reinado de D. Manuel um conjunto de medidas dignas de referência.
Em 1496 obteve um breve do papa Alexandre VI, pelo qual os prelados e cabidos de cada igreja metropolitana e catedral proveriam, mediante concurso, em duas conezias e respetivas prebendas, uma num doutor ou licenciado em Teologia, outra num doutor ou licenciado in utro que jure, ou só num dos Direitos, canónico ou civil.
Aquelas chamaram-se conezias magistrais, e a estas doutorais, e por elas se procurou simultaneamente elevar o nível intelectual dos cabidos e assegurar o sustento de alguns graduados da Universidade.
O breve de Alexandre VI era cópia do que Sisto IV expedira para Espanha em 1474, e pela reação de alguns cabidos só ao fim de muitos anos veio a ter plena execução. Na regência de D. Catarina a apresentação dos licenciados e doutores passou para a Coroa.
Resolvido assim, em parte, o velho pleito entre a Universidade e os prelados e cabidos, curou D. Manuel da instalação da Universidade, doando-lhe em 1503 novos edifícios, sitos no local ainda hoje designado Escolas Gerais, a S. Vicente.
Em 1517 fundou no mosteiro de S. Domingos de Lisboa o colégio de S. Tomás para vinte colegiais, catorze da ordem de S. Domingos de Lisboa, e seis da ordem de S. Jerónimo; e finalmente pensou estabelecer uma outra Universidade em Évora, para o que chegou a comprar terrenos junto do Moinho de Vento, pertencentes ao coudel-mor Francisco da Silveira, — pensamento que só veio a ter execução, aliás com finalidade diversa, no reinado do Cardeal D. Henrique, em 1559.
Os estatutos de D. Manuel foram ditados num dos momentos culminantes da história do Ocidente e de Portugal, quando o espirito da Renascença começava a irradiar de Itália pela Europa e os descobrimentos condicionavam um novo rumo da política, da economia mundial e do próprio pensamento. Na simultaneidade de tão grandes e fecundos acontecimentos não é hoje fácil, à míngua de elementos, discriminar a quota-parte da reforma universitária na renovação científica do País, tanto mais que à provável influência direta do Estudo de Lisboa veio acrescentar-se, quando não opor-se, a imigração de professores estrangeiros e a importação intelectual dos nacionais que se haviam ilustrado e formado nas universidades de além-fronteiras. É possível que no ensino do Direito Civil começasse o ocaso da escola dos glosadores bolonheses; mas temos por seguro que foi no ensino da Gramática, especialmente pelo magistério de Estêvão Cavaleiro, que primeiro se insinuou a nova cultura renascente. D. Manuel falecera em 1521. D. João III, ao suceder-lhe, conservou o regimento da Universidade de Lisboa, mas indiretamente preparou uma das mais profundas reformas da cultura nacional, patrocinando a formação intelectual da juventude em universidades do estrangeiro.
Este movimento, que começara no reinado de D. João II e se continuou com maior largueza sob D. Manuel, atingiu o ponto máximo do seu desenvolvimento entre 1521 e 1550, isto é, desde o início do reinado de D. João III, até à fundação do Colégio das Artes em Coimbra. Desde os últimos anos do governo de D. Manuel contar-se-iam por muitas dezenas os estudantes portugueses em Salamanca, Paris, Lovaina, etc. Em Salamanca, onde ensinaram Aires Barbosa e Pedro Margalho, estudaram André de Resende, Pedro Nunes, Garcia de Orta, Jerónimo Cardoso, João de Barros, o desembargador, Amato Lusitano, Luís Nunes, de Santarém, para só referir alguns dos nomes mais ilustres nas Humanidades, no Direito e nas Ciências. Para estudarem Teologia em Oxford e Cambridge subsidia D. Manuel, em 1517 e 1518, os franciscanos Fr. João Guieiro, de Tavira, Fr. Francisco do Porto e Fr. Francisco Pessoa -- nomes hoje obscuros, sem biografia, mas que significam a “europeização” desses tempos. Alguns dos mais límpidos eruditos e reformadores do ensino público foram educados em Lovaina, cujo colégio Trilingue (Buslidiano, 1517) deu a norma para os colégios de artes da renascença ocidental. Lovaina foi no primeiro quartel do século o mais brilhante e sedutor centro de humanismo, ao qual presidiam Erasmo e Luís Vives; e foi sob o influxo das suas ideias e dos seus vitupérios contra a barbaridade medieva que frequentaram a Universidade lovaniense os jerónimos Diogo de Murça e Brás de Barros (ou de Braga), André de Resende (1529-31), Damião de Góis (1532) e Aquiles Estaço.
Em Paris, os superiores de conventos dominicanos e franciscanos atestaram a escolaridade de alguns teólogos; a maioria, porém, alojou-se nos colégios da grande urbe universitária, designadamente Montaigu e, sobretudo, Santa Bárbara. Em Montaigu, cujo regulamento ascético arruinou a saúde de Erasmo e mereceu à indignação de Rabelais o epíteto de Collège de pouillerie, foram companheiros Francisco de Melo, o matemático, de quem Gil Vicente entre chistes foi dizendo a sério que tinha “sciencia avondo”, e D. Martinho de Portugal, futuro arcebispo e embaixador em Roma, cujo interesse e gosto pelas Humanidades Luís Vives louvou numa famosa epístola a Erasmo (Bruges, 4 de Junho de 1520). De todos os colégios parisienses, Santa Bárbara foi o que alojou e educou maior número de portugueses.
Em 1526, D. João III, incitado por seu irmão, o cardeal D. Afonso, helenista e latinista, e por Diogo de Gouveia, o velho, instituiu 50 bolsas no famoso colégio, — liberalidade exalçada em versos, discursos e festas, tanto mais que o Colégio de Navarra, dos maiores de Paris, tinha apenas setenta bolseiros. A Universidade envaidecera-se com a preferência régia e, sem louvaminha, Diogo de Gouveia (senior) escrevia em 1527 ao rei: “Creia Vossa Alteza que tem ganhado mais nome e glória que em tomar Fez”. Durante vinte anos (1520-1540), a dinastia dos Gouveias regentou o Colégio de Santa Bárbara, e embora se tivesse frustrado o intento da compra do Colégio para o rei de Portugal, na realidade converteu-se numa escola portuguesa pela população docente, discente e dirigente. De muitos dos alunos se perdeu o nome; mas de alguns mestres, desconhecê-los é ignorar um dos momentos em que Portugal ocupou em Paris uma posição singular Diogo de Gouveia, o velho, seu principal e reitor da Universidade de Paris; seus sobrinhos, Marcial, poeta latino e gramático, que além de Santa Bárbara professou em Poitiers, António, defensor de Aristóteles contra Pedro Ramus, “cavaleiro andante da eloquência e da erudição” e “um dos raros espíritos que constituirão o eterno ornamento da Renascença” no juízo de Quicherat, André, le plus grand principal de France, no dizer de Montaigne, e reitor da Universidade de Bordéus, e Diogo (Júnior), de todos o mais obscuro; Diogo de Teive, poeta e historiador latino do Cerco de Diu, e António Pinheiro, editor consagrado de Quintiliano.
Este espírito de convivência internacional, que se manifestou paralelamente na formação intelectual dos bolseiros e na importação de mestres estrangeiros, teve como consequência imediata a modernização da cultura nacional e a transformação da fisionomia das escolas. Diogo de Teive, em 1550, num depoimento do processo que o tinha a ferros na Inquisição, referindo-se a Diogo de Gouveia, o velho, dele disse que fora “uma das causas principais de termos as boas-letras neste reino”. E de facto o fora. Simplesmente a transformação, considerada no aspeto escolar, foi lenta. Os primeiros anos do reinado de D. João III não revelam um propósito de reformação direta da Universidade. Em 1523, dois anos depois de ocupar o trono, estranhou, segundo parece oficialmente, que a Universidade não tivesse ainda eleito o seu protetor — o que logo se fez, elegendo-o. Não pode hoje julgar-se com segurança se em tal advertência se escondia uma censura ou se, pelo contrário, se revelava aquela “boa inclinação para as letras e letrados”, que após Frei Luís de Sousa todos os historiadores lhe reconhecem. A sua atenção, no entanto, volveu-se para Coimbra, sobretudo depois de 1528, favorecendo os estudos no mosteiro de Santa Cruz, quase se limitando em relação à Universidade a expedir algumas providências meramente regulamentares. Assim, em 1525 determinou que a eleição do reitor passasse a fazer-se na véspera de S. Martinho, não sendo elegíveis os lentes e oficiais do Estudo; em 1532 mandou devassar dos subornos que se cometiam no provimento das cátedras, e em 1534 estabeleceu o regime de férias grandes, de Julho a Setembro inclusive, férias da Páscoa, de quarta-feira de Trevas ao dia de Páscoa e os dias de guarda — e novas regras para a eleição dos lentes.
Pelo novo regimento, decretado em 29 de Junho de 1534, o direito de voto nos concursos para o magistério foi limitado. Assim, nos concursos de Teologia, somente podiam votar o reitor, graduados, conselheiros e estudantes que tivessem adquirido o direito de voto nos termos dos estatutos; e nos de Direito Canónico, Direito Civil e Medicina, o reitor, os graduados e estudantes da respetiva Faculdade, nas condições dos estatutos, e nos de Artes, o reitor, os teólogos, médicos, artistas e estudantes nas condições anteriores. Como se vê, cercaram-se de cautelas especiais os concursos de Teologia e de Artes aqueles pela ascendência dos estudos teológicos, estes por se tratar de cátedras que serviam de introdução e preparatório para as outras Faculdades.
De todas estas providências a mais importante foi a de 1532, porque ao mesmo tempo que mandou devassar do suborno no provimento das cátedras, o qual era uma consequência do sistema estabelecido primitivamente e consagrado pelos estatutos manuelinos, determinou fazer apenas nomeações provisórias, sob condição de os nomeados lerem enquanto o Estudo se não mudar. Era o anúncio claro de uma nova transferência da Universidade. O Conselho da Universidade assim o entendeu, representando ao rei, seu protetor, em 25 de Outubro de 1535, contra a anunciada mudança. A representação ou requerimento não obteve resposta; por isso, o conselho insistiu em 14 de Dezembro do ano seguinte, no sentido de o rei “tomar conclusão sobre o requerimento, de se não mudar este Estudo para Coimbra pelas razões contidas na carta que lhe escrevemos pelos doutores seus procuradores e por outras que eles diriam a V. A., porque além do gasto que lá fazem e por perda das lições das suas cátedras ainda que se leiam por substitutos, saberão assim os lentes como os estudantes o que hão-de fazer que todos andam indeterminados”.
A instabilidade dos ânimos e dos interesses reclamava uma resolução. D. João III não só a não dava como se recusara, segundo se depreende, a receber a comissão que a Universidade deputara. Por isso, nesta segunda representação, invocavam as razões que aconselhavam a permanência do Estudo em Lisboa, mesmo que o rei quisesse fundar uma nova Universidade em Coimbra, o que aplaudiam, “Lembramos a V. A., escreviam, entre as outras cousas que há para se não mudar este Estudo daqui, que este bairro em que os estudantes vivem é o melhor para o gasalhado e saúde deles que pode haver em seu reino, e que nesta cidade quis El-Rei que Deus tem seu pai que se fizesse a romaria que se faz com eles cada ano, e assim o Infante D. Henrique. E que aqui quis El-Rei seu pai que tivesse este Estudo dando-lhe casas em que se fizessem as escolas como diz o prólogo [dos estatutos] e assim o quiseram os Reis que antes dele foram, cujas vontades parece razão e justiça serem cumpridas e que uma parte da renda deste Estudo é da capela de Mangancha, que mandou que se cantasse em S. Jorge desta cidade, e que uma principal parte dos estudantes são sacerdotes que se mantêm das capelas que aqui há muitas que não há em Coimbra, e que a república desta cidade de que são os mais estudantes receberá mui grande dano, porque não poderão manter seus filhos tão longe. E parece que V. A. devia de querer fazer mercê assim aos estudantes como ao povo desta cidade, que tem muito amor a seu serviço, em lhe não tirar este bem, fazendo mercê a Coimbra com tanto dano de Lisboa, principal coisa de seus reinos, e que devia V. A. de haver por seu serviço deixar estar aqui este Estudo com sua ordenança como El-Rei que Deus tem seu pai o renovou, e muito proveito será a seus reinos haver duas Universidades, pois em outros há muitas mais. Pedimos a V. A. que com as razões desta carta e da outra que sobre isto lhe escrevemos com pareceres de letrados e dos de seu conselho com muita brevidade tome sobre isto aquela conclusão que for mais serviço de Deus e seu e bem comum e nos faça tanta mercê que nos escreva sua determinação” (Apud. T. Braga, História da Universidade de Coimbra, vol. II). Responderia o rei a esta representação, na qual se ouviam as vozes dos interesses ameaçados, confundidas com o respeito a determinações régias anteriores e a disposições de última vontade? Ignoramo-lo; sabemos apenas que em Abril de 1537, cento e sessenta anos depois de fixada em Lisboa, a Universidade dos mestres e estudantes de Portugal era uma vez mais, e agora definitivamente, trasladada para Coimbra, onde se conservou como instituição sem par até 1911.
Ao certo, ignoramos as razões que imperaram no ânimo de D. João III.
Em nosso juízo, não pode invocar-se a decadência científica do Estudo de Lisboa nem o intento de uma nova orgânica do ensino superior.
Como demonstrou o bispo D. Manuel do Cenáculo Vilas Boas, nos eruditíssimos Cuidados Literários do Prelado de Beja (Lisboa, 1791), “não é de consentir que fosse a falta, não dizemos só de sábios ordinários, ou reduzidos a retiro e desconhecimento, mas ainda de sujeitos egrégios, pois certamente os houve”. Prova-o razoadamente com a Oração de sapiência proferida por André de Resende em 1534, na qual o famoso humanista nos legou como que um panorama científico da Universidade de Lisboa, num momento em que a sua existência já estava irremediavelmente comprometida; e descendo do panegírico ao exame dos factos, conclui que “desta escola felicíssima saiu o trabalho no Estudo Geográfico dos Teixeiras em tempo d’El-Rei D. João II, que serviu à curiosidade de Ortelio; aí se habilitaram os sagazes descobridores de novos Climas: os João de Castro para escrever a Navegação a Suez e o Roteiro da Índia: os Fernando Vaz Doirado, nos preciosos Mapas da Ásia: os Martinhos de Figueiredo, Garcia da Orta, Cristóvão Africano e outros sobre a História Natural”. “Na ordem dos Matemáticos estão o sábio Pedro Nunes, Diogo de Sá, Francisco de Melo e Fr. Lucas... e dos Teólogos nomeados acrescentamos por muitos a Osório, Álvaro Gomes, Fr. António da Fonseca, Fr. Gaspar do Casal, Fr. Jerónimo da Azambuja, Fr. Baltasar Limpo, nomes de grande acatamento”.
Ao transferir a Universidade para Coimbra, D. João III não estabeleceu uma orgânica diversa: conservou os estatutos manuelinos, por forma que a trasladação se caracterizou essencialmente pela incorporação de professores novos, alguns estrangeiros. Fez acima de tudo uma reforma de pessoal, e que obstava a que esta medida se tomasse em relação a Lisboa, tanto mais que os provimentos se faziam com a cláusula de interinidade? Talvez por ressentimento pessoal, talvez para ser agradável ao reformador de Santa Cruz de Coimbra, Frei Brás de Barros, o certo é que desde 1532, pelo menos, lhe surgiu o intento, logo divulgado, de trasladar o Estudo. Uma coisa parecia assente: a Universidade não continuava em Lisboa, e perante este propósito acudiam naturalmente as sugestões e requerimentos de várias cidades. O arcebispo de Braga inculcava o Porto ou Braga; a Câmara de Coimbra lembrava a sua cidade, respondendo-lhe D. João III em 9 de Junho de 1533 que vira “bem vossa carta, e as razões que para isso dais, e vos agradeço a lembrança que me disso fazeis; e porém até ao presente eu não tenho nisso assentado cousa alguma; e havendo-se alguma coisa de fazer, eu terei lembrança do que me enviais dizer”; e finalmente Évora era lembrada nas Cortes de Évora de 1535, requerendo os procuradores, no capítulo 159, que “mandasse acabar os estudos de Évora que são começados, e que aí se ordenem lentes e que as duas prebendas da Sé, que são ordenadas para um Teólogo e para um Canonista, que rendem duzentos mil réis cada uma, e as obras da Sé que não são apropriadas para cousa alguma senão para as ditas obras e rendem novecentos mil réis cada ano se apliquem aos ditos Estudos, e será azo que hajam mais letrados em seu reino e que não se leve o dinheiro para fora do reino que os estudantes lá gastam: a que El-Rei respondeu: Agradeço-vos a lembrança.
Porém ao capítulo 172, que contém o seguinte: Item—pedem a V. A. que mande aprender de Física quarenta ou cinquenta cristãos velhos que para isso tenham habilidade, porque esta ciência não anda agora senão em cristãos novos, dando V. A. esperança na dita ordenação de os honrar e lhes fazer mercê, porquanto disto se seguirão muitos proveitos e muito repouso a seus reinos e senhorios. Deu El-Rei esta resposta: Eu ordeno em Coimbra uns Estudos em que se lerá Medicina, e poderão aprender os que quiserem» (Leitão Ferreira, Notas inéditas às notícias cronológicas da Universidade de Coimbra in- O Instituto, v. XIV).
A partir de 1535, pelo menos, Coimbra foi a cidade preferida, e com efeito dois anos depois, em Abril de 1537, pela trasladação da Universidade, adquiria a feição de cidade universitária, que tem mantido. Dissemos já serem ignorados os motivos da trasladação, assim como os da preferência de Coimbra; mas, pelo que a estes respeita, cremos ter sido decisivo o poderio de Fr. Brás de Barros, ou de Braga, reformador do mosteiro de Santa Cruz.
Desde o alvorecer da nacionalidade Santa Cruz fora um centro de atividade intelectual, mas nunca os estudos se elevaram a um plano tão alto como quando Fr. Brás de Barros (1484-1559) presidiu aos destinos do famoso mosteiro, como reformador dos Cónegos Regrantes (desde 1527) e instaurador do ensino das Humanidades. Aos seus esforços e valimento junto de D. João III, a esta hora verdadeiro pai das letras, se deve porventura o carácter inconfundível de Coimbra, ao convertê-la, num momento em que se debatiam várias ambições locais, em cidadela de estudos. Em 1535, segundo a crítica mais recente (M. Brandão), existia já em Santa Cruz de Coimbra um corpo de mestres de artes. filosofia e porventura teologia, entre os quais “os franceses que vieram de Paris”. Por quatro colégios, no mosteiro ou à sua volta — Todos-os-Santos, S. Miguel, Santo Agostinho e S. João Baptista — alguns dos quais ainda não conclusos, se repartia o concurso numeroso dos estudantes. A traça dos edifícios e a selecção dos mestres revelam-nos a grandeza do plano de F. Brás, e quer-se melhor prova, que a fundação da oficina tipográfica no próprio mosteiro? Germão Galharde, impressor francês, fora (1530-31) o seu organizador, mas em 1532 já eram os cónegos quem compunham e tiravam. Famosa sobretudo até 1536, desta oficina saíram vários livros religiosos e de humanidades, entre os quais as Institutiones latinarum literarum (1535) de D. Máximo, e, em 1534, o De divisionibus et difinitionibus de Boécio, “em que já se veem, no juízo do erudito Fr. Fortunato de S. Boaventura, alguns lugares de caracteres gregos perfeitamente trabalhados, que mostram bem quanto floresciam aqueles prelos”.
Sobre o valor destas escolas, nas quais era “opróbio falar, salvo em latim ou grego”, legou-nos o célebre humanista Nicolau Clenardo um depoimento notável ao recordar na Epístola aos Cristãos a sua passagem por Coimbra (1537):
“Por esse tempo andava El-Rei empenhado em levantar nessa cidade a nova Universidade. Será necessário alongar-me aqui em elogios, quando El-Rei em pessoa cada dia e cada vez mais se impõe por si próprio à nossa admiração? Era tempo de férias; portanto não havia aulas nas várias disciplinas. Não posso formar um juízo senão da aula de grego, a qual me deixou assombrado com o novo milagre: — Vicente Fabrício comentava Homero, não traduzindo-o de grego para latim, mas como se o fizesse na própria Atenas! Nunca até então eu vira tal em parte alguma. E os discípulos imitavam o mestre com não menor aplicação, empregando também a língua grega quase exclusivamente.
“A julgar por estes presságios, se me é lícito meter a profeta, Coimbra há-de vir a ser um centro florescentíssimo no estudo das línguas. Quanto à Teologia, deram-lhe muito brilho três frades, os quais, tendo frequentado esta Universidade apenas alguns meses, disputaram sobre um tema que lhes foi proposto, com tanta agudeza, que foram seguro testemunho sobre quão ilustres mestres eles ali ouviam. Se é certo que a glória alimenta as artes, quem não vê que está reservado a Coimbra ainda um dia vir a sobrepujar a própria Salamanca? El-Rei também se não poupa a nenhumas despesas, tendo dotado as cadeiras com proventos tão gordos, que em toda a Espanha não logram os professores melhores salários” (Trad. do Prof. Gonçalves Cerejeira).
A realidade confirmou o vaticínio do famoso humanista. Com a nova fundação da Universidade em Coimbra, a munificência régia “desterrou toda a barbaridade deste reino, convocando para a sua cultura homens doutíssimos”, no dizer de André de Resende, assim nacionais como estrangeiros, de Alcalá, Salamanca, França e Itália. Coimbra reputava-se uma nova Atenas, e desde então a sua história tornou-se inseparável da história da cultura pátria.
Com o amparo real, verdadeiro mecenato, conseguira Fr. Brás organizar na famosa casa dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho cursos regulares de Artes ou Humanidades. Segundo o cronista Fr. Nicolau de Santa Maria, e com ele quase todos os historiadores, os cursos terim começado em 1528; porém, recentemente o Dr. Mário Brandão estabeleceu com documentada crítica que “a primeira referência certa a estudos no Mosteiro... [aparece] numa carta do rei para Frei Brás, de 20 de Agosto de 1530, em que manifesta o desejo de ser informado sobre a forma da suplicação que este fizera a Roma acerca de cousas que tocavam aos estudos. Este testemunho, porém, se nos prova que já então se pensava seriamente nos estudos, não informa se já se lia ou não no Mosteiro. Afigura-se-nos que não. Cremos que só em 1535 se inauguraram cursos regulares em Santa Cruz. Foi neste ano que vieram para o Mosteiro professores franceses e no fim de Setembro inaugurou-se o ensino das Artes começando um Mestre a ler o primeiro ano do curso: a Lógica. Os outros lentes ocupariam as cátedras de Gramática e Humanidades, e não sabemos mesmo se as de Teologia” (0 Colégio das Artes, I).
Além da época da inauguração dos estudos regulares no mosteiro, o mesmo investigador teve a fortuna de corrigir o suspeito cronista sobre um outro ponto fundamental: a fundação dos colégios no mosteiro de Santa Cruz. Passava como assente que em 1528 se haviam fundado o Colégio de S. Miguel, “para homens fidalgos e da principal nobreza do reino”, e o Colégio de Todos-os-Santos, para “estudantes honrados pobres”. Com boa crítica e abundantes factos, o Dr. Mário Brandão, provou a um tempo que a edificação destes colégios começou em 1536 e não em 1528, e se destinara o de S. Miguel para canonistas, ou canonistas e teólogos, e o de Todos-os-Santos para estudantes teólogos e artistas.
Posteriormente à fundação destes colégios, situados junto do mosteiro, organizaram-se os colégios de Santo Agostinho e S. João Baptista, porém com características diversas. Os da nova fundação foram simples locais de aulas; os de Todos-os-Santos e de S. Miguel, casas destinadas ao estudo e aposentadoria de colegiais, a quem o mosteiro sustentava. Graças aos documentos publicados por Mário Brandão, sobretudo a Traça das Constituições dos Colégios de Todos-os-Santos e de S. Miguel, que ele descobriu no Arquivo da Universidade de Coimbra, conhecemos hoje a organização interna dos dois colégios, e sobre a qual nos devemos deter, pela luz que derrama sobre a vida escolar da Renascença. Cada um dos colégios aposentava nove colegiais, durante o tempo máximo de sete anos. A admissão ao colégio fazia-se por concurso de provas, as quais se prestavam perante o convento e colegiais. As vagas eram anunciadas por éditos de quarenta dias em Coimbra e nas cidades mais importantes do Reino, decorridos os quais os opositores se apresentavam ao Prior do mosteiro para serem admitidos à oposição, sendo desde logo excluídos os que, até ao quarto grau, tivessem “casta de judeus, mouros ou gentios, fossem infames ou filhos de infames, casados, viúvos, fossem ou tivessem sido professos ou noviços de alguma ordem religiosa, e doentes de alguma enfermidade contagiosa, ou impetrassem carta ou rogo de alguma pessoa poderosa ou de outra qualquer”.
O concurso constava de duas lições sobre as Decretais, arguidas por três colegiais dos mais novos, e o provimento fazia-se por maioria de votos, votando o Prior, os colegiais, e os conciliários e canonistas escolhidos pelo Prior.
Na votação devia preferir-se o mais digno, “e mais disso, o que for mais hábil, virtuoso e mais pobre”. O candidato admitido, no dia em que vestia o hábito do colégio, jurava perante o Prior de Santa Cruz guardar as constituições e “ser sempre em ajuda, e favor de serviço do Mosteiro”. O reitor do colégio designava-lhe um colegial mais antigo para lhe ensinar as constituições.
Os colegiais de Todos-os-Santos usavam “uma loba de pano pardo, que quase cobria os pés e capelo singelo do mesmo pano”, e os de S. Miguel uma loba roxa sem colar, do mesmo comprimento, e uma beca do mesmo pano. O hábito era obrigatório fora do colégio, sob pena de multa, e era-lhes proibido o uso de camisas lavradas e luvas perfumadas, “nem outras coisas semelhantes”. Dentro do colégio usavam uns roupões de cor das lobas, os quais apertavam pela frente e tinham as mangas mais curtas.
Ouviam missa diariamente, no Inverno às 6, e no Verão às 7 horas; jejuando nos dias de jejum no convento, e além de outras obrigações religiosas, cumpria-lhes assistir em Santa Cruz a “todas as festas que forem de quatro cantores”.
As refeições faziam-se em comum, lendo-se ao jantar passagens do Antigo Testamento e à ceia do Novo. A refeição era precedida da bênção da mesa, e o que não assistia à bênção não comia o primeiro prato, ou, no dizer das constituições, da “primeira pitança”.
A língua dos colegiais entre si e dentro do colégio, era o latim — regra uniforme de todos os colégios da Renascença, e que em Coimbra foi exemplarmente respeitada, como testemunhou Nicolau Clenardo ao visitar Santa Cruz.
Semanalmente realizavam-se dois “exercícios de Letras” durante o ano letivo, isto é, do dia de S. Lucas ao de S. João, — às quartas-feiras, conclusões, e aos sábados lições, com ponto de vinte e quatro horas. As conclusões, que se inscreviam num quadro na “casa das conferências”, e as lições eram arguidas pelo menos por três dos colegiais mais modernos. Os exercícios escolares faziam-se dentro do colégio e para os colegiais: porém, sempre que o Prior de Santa Cruz ordenasse, os colegiais deviam ler perante os cónegos regrantes no mosteiro. A vida interna era severa e rigorosa, e orientada para o estudo, moralidade e cumprimento dos deveres religiosos. A portaria, sempre fechada, cerrava-se para os colegiais desde o toque das ave-marias no Convento ao amanhecer do dia seguinte, podendo apenas abrir-se para o médico ou nos casos que o Prior dispensasse. Anualmente, os colegiais elegiam entre si o seu reitor, porém, a autoridade suprema residia no Prior de Santa Cruz.
Os colégios de S. Miguel e de Todos-os-Santos significam o dealbar da Renascença em Coimbra, e se nos detivemos sobre eles, um pouco à margem do assunto, foi pelo que nos esclarecem acerca do viver interno de um tipo de instituição escolar de vária e larga fortuna histórica e dos objetivos pedagógicos de D. João III. Ao patrocinar a reforma monástica e intelectual de Fr. Brás de Barros, o Rei Piedoso pensava já em Coimbra como sede da Universidade reformada.
“Eu sempre fiz fundamento quando determinei mandar fazer esses estudos de fazer universidade e escolas gerais”, escrevia a Fr. Brás de Barros em 9 de Fevereiro de 1537, e nesta frase se denuncia a cuidadosa premeditação de trasladar a Universidade para Coimbra e, porventura, o propósito de a instalar no Convento de Santa Cruz.
A instituição de estudos regulares no famoso mosteiro aparece-nos, assim, como ato preparatório e sondagem às possibilidades de Coimbra, e agora que a opinião ilustrada via nos Colégios de Santa Cruz a mais brilhante e prometedora afirmação escolar da época, porque não rematar a obra com a trasladação da Universidade?
Em 9 de Fevereiro de 1537 a trasladação foi por assim dizer tornada pública; e ao anunciá-la a Fr. Brás de Barros, D. João III ordenava-lhe que dispusesse os gerais de Santa Cruz e as casas mais próximas do mosteiro por forma que os lentes de Teologia, Cânones, Leis e Medicina começassem os cursos no primeiro de Março de 1537.
As Artes, que já se ensinavam em Coimbra, como vimos, não careciam de providência especial. A transferência impunha, com efeito, dois graves problemas: o da instalação da Universidade e o da situação do pessoal docente de Lisboa. Quanto ao primeiro, logo se reconheceu que não era viável o intento régio, ou de Fr. Brás de Barros, de instalar as classes nos colégios e dependências do mosteiro; por isso se repartiram as Faculdades, alojando umas nos Colégios de Santa Cruz e outras nas casas de D. Garcia de Almeida, que por provisão de 1 de Março de 1537 havia sido nomeado reitor da Universidade de Coimbra. Segundo parece, só em Abril ficou instalada a Universidade, abrindo-se as aulas em 2 de Maio de 1537. Este alojamento fora um expediente provisório imposto pelas dificuldades de momento; por isso, em Setembro deste ano, D. João III anunciou o propósito de mandar edificar Escolas gerais adequadas, o que não realizou, e entretanto ordenou que a Universidade se alojasse no paço real da Alcáçova por forma que neste novo local funcionassem as aulas em Outubro. Nestas vicissitudes houve sem dúvida a dificuldade material do alojamento, mas descobre-se também a luta entre a Universidade e o Mosteiro. Pondo de parte os incidentes, por secundários ao nosso ponto de vista, em princípios de 1538 liam-se nos paços reais o Direito Civil, o Direito Canónico, a Matemática, a Retórica e a Música; e nos Colégios de Santa Cruz, a Teologia, as Línguas grega e latina, a Filosofia e a Medicina, pela conexão dos estudos médicos com as Artes. O desmembramento de um organismo essencialmente corporativo afetava naturalmente a vida escolar; mas mais grave que a diversidade de locais era a quebra da unidade de direção, porque o governo da Universidade se repartia por duas autoridades diversas e independentes: o reitor, nos paços reais, e o prior-mor, no mosteiro.
Daí o desejo da Universidade se reunir num local único e concentrar os poderes de direção no seu reitor. Só em 1544 o conseguiu, sem dúvida pelos esforços do seu reitor Fr. Diogo de Murça, e pela condescendência de Fr. Brás de Barros, que talvez tivesse reconhecido os estragos e inconvenientes do bulício escolar no seio de uma comunidade votada ao recolhimento.
Desde este ano todas as Faculdades se alojaram nos Paços reais, que ficaram sendo os Paços das Escolas, onde ainda hoje existe a sede principal da Universidade, e se estendeu sobre o corpo escolar a autoridade do reitor e dos conselhos académicos.
Do pouco que sabemos das anteriores trasladações da Universidade somos levados a crer que houve tão somente variação de local. Os professores, que apenas mudavam de residência, viam respeitados os seus direitos, persistindo o Estudo com a mesma orgânica. D. João III, porém, ao transferir a Universidade, não se prendeu com os direitos adquiridos pelos professores da capital. Para Coimbra enviou quem lhe pareceu competente, aposentando quem o não era ou lhe não agradava; e esta medida, sempre fácil para uma vontade soberanamente absoluta, parecia coonestar-se como consequência necessária da extinção da Universidade em Lisboa. Sob o ponto de vista docente, a transferência trouxe consigo a seleção de pessoal, e com tal amplitude que pode pensar-se ter sido a necessidade da reorganização docente que inculcou o processo da transferência. Em vez de efeito, causa; mas seja ou não exata esta relação, é indiscutível que o êxito da mudança para Coimbra resultou da escolha do professorado a quem D. João III confiou o magistério. De Lisboa vieram os mais famosos professores das faculdades maiores, completando-se o quadro docente com professores nacionais e estrangeiros, sobretudo de Salamanca e Paris, célebres alguns na república das letras. D. João III, verdadeiro Mecenas, não regateava as liberalidades; e, dirigida por espíritos esclarecidos, sobretudo o reitor Fr. Diogo de Murça, a Universidade de Coimbra, aberta a todos, sem exclusivismo de nacionalidade, viveu então os dias mais gloriosos da sua história científica.
Em Teologia ensinaram, de entre outros, o Dr. Afonso do Prado, Francisco de Monçon, graduado em Alcalá, autor do Espejo del Principe christiano, Martinho de Ledesma, António de Afonseca, doutor teólogo por Paris, Marcos Romeiro e Paio Rodrigues de Vilarinho. Na faculdade de Cânones, Martin de Aspilcueta Navarro, catedrático da Universidade de Salamanca, Bartolomeu Filipe, Luís de Alarcão, João Peruchi Morgovejo. Em Leis, Manuel da Costa, o doutor subtil, que viera de Salamanca para reger a cátedra de Código, Fábio Arcas, que veio de Roma, Aires Pinhel, estudante famoso em Salamanca, e tantos outros, pois parece terem ensinado então em Coimbra dezoito lentes de Leis. Em Medicina, Henrique de Cuellar, Afonso Rodrigues de Guevara, Luís Nunes, Rodrigo Reinoso, Francisco Franco, valenciano; e em Matemática, Pedro Nunes, que era mestre no Estudo de Lisboa.
Foi a tão famosa galeria de mestres que a Universidade deveu a celebridade nos primeiros anos da sua trasladação, provando-se uma vez mais esta verdade do senso comum de ser o professor e não a organização quem valoriza a escola, tanto mais que a trasladação não foi precedida nem seguida, em nosso juízo, de uma reforma dos estatutos. Alguns historiadores têm defendido a opinião de que em 1544 foram promulgados estatutos novos. Teófilo Braga, em especial, foi o grande defensor desta opinião, exposta largamente no volume II da História da Universidade de Coimbra nas suas relações com a instrução pública portuguesa; mas nenhum dos argumentos que aduziu se nos afigura probatório, porque todos se referem ou aos estatutos manuelinos ou aos estatutos do Colégio das Artes. Pensou-se, sem dúvida, na ordenação de um novo regimento, porém, não chegou a ter expressão legal durante a vida de D. João III, que limitou a sua ação reformadora a medidas avulsas, as quais só parcialmente modificaram os estatutos de D. Manuel. Entre estas providências inovadoras destacam-se as que se referem ao aumento das cátedras nas várias Faculdades, aos usos e costumes universitários e às atribuições dos priores gerais de Santa Cruz, as quais merecem um momento de atenção pelas vicissitudes da feição regalista da Universidade. Desde a fundação do Estudo Geral, por D. Dinis, e de harmonia com a bula de Nicolau IV, os graus académicos eram conferidos nas Sés onde se encontrava o Estudo, pelos prelados de Lisboa ou Coimbra, e por autoridade pontifícia. Os atos grandes, como vimos, realizavam-se na Sé ou nas casas do cabido, por forma que as funções de cancelário eram exercidas pelo prelado da sede da Universidade.
Ao trasladar a Universidade para Coimbra determinou D. João III, por alvará de 28 de Novembro de 1537, que o reitor servisse de cancelário e conferisse os graus de Licenciado e Doutor em Leis e Medicina, por autoridade régia. Quanto aos de Teologia e Cânones deviam suspender-se até que de Roma viesse autorização para se conferirem por autoridade pontifícia, o que Paulo III concedeu, por bula da Penitenciária de 12 de Fevereiro de 1539.
A concessão de graus por autoridade régia, embora restrita às Faculdades de Leis e Medicina, abria naturalmente o caminho da secularização da Universidade; porém, era um caminho curto e difícil, tendo diante de si a barreira intransponível da ideologia orientadora do Estado, segundo a qual o poder público tinha por missão a realização dos fins ético-religiosos. Compreende-se, assim, quanto era precário o regime estabelecido para a nova Universidade, tanto mais que ele repartia as funções de cancelário por duas autoridades diversas, que naturalmente competiriam para obter a unificação dessas funções. Como era lógico, triunfou a autoridade eclesiástica. Pelas cartas régias de 15 de Dezembro de 1539 e de 29 de Dezembro de 1540, o Prior Geral de Santa Cruz conquistou para si e para os seus sucessores o título de cancelário da Universidade, cumprindo-lhe dar os graus de licenciado e doutor em Leis, Medicina e Artes por autoridade régia, e em Teologia e Cânones por autoridade pontifícia. Os exames privados e a colação dos graus faziam-se então no mosteiro de Santa Cruz; mas em 1544, quando todas as Faculdades se alojaram no paço real da Alcáçova, os atos e cerimó-nias universitárias passaram a realizar-se no edifício da Universidade, conservando, porém, os priores gerais de Santa Cruz a dignidade e funções de cancelários, que mantiveram até à extinção das ordens religiosas em 1834.
No rápido debuxo da organização escolar que tracejámos até agora, detivemo-nos apenas no ensino superior ou universitário, porque, em rigor, durante quase todo o período histórico de que nos ocupamos, só este ramo de ensino foi considerado pelo Estado como serviço público. Existiram, como é óbvio, escolas elementares. Assim, a partir de 1500, há documentos que nos atestam a existência de escolas de primeiras letras em várias localidades e segundo a estatística de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, Lisboa possuía em 1551 trinta e quatro mestres de ensinar a ler, os quais eram subsidiados apenas pelos particulares, que aliás lhes pagavam miseravelmente. Era um ensino particular e mau, se dermos crédito ao juízo do cronista João de Barros, que no Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem diz que “quando um moço say da eschola, nã fica cõ nichil (nada)”, por ser permitido “é todalas nobres villas e cidades, qualquer idiota e nã aprovado em costumes de bõviver poer esehola de insinar mininos”. O ensino primário oficial se excetuarmos o que rudimentarmente se ministrava nas colónias ultramarinas, foi uma criação do Marquês de Pombal, e não podia ter sido criado anteriormente porque a ideia da generalidade do ensino não havia conquistado ainda o espírito das classes dirigentes do País. O Estado e as instituições eclesiásticas patrocinavam, talvez com mais eficiência prática que nos nossos dias, o acesso dos pobres à cultura superior; porém, com carácter individual e benemerente, sem a feição impessoal dos tempos modernos, que trocaram o respeito à aristocracia de sangue pela necessidade de formar a aristocracia do mérito. Em rigor, o ensino orientava-se no sentido da hierarquia social e da formação de profissionais, e com tal objetivo compreende-se que o Estado considerasse acima de tudo o ensino superior. A reorganização universitária de D. João III apresenta-nos a apoteose desta ideia. A Universidade deixa de ser, como fora na Idade Média, uma escola de cultura geral, para se tornar profissional e científica, orientada para a especialização e para a investigação; e como corolário desta nova estrutura impunha-se naturalmente a preparação para a escolaridade universitária, tanto mais que a Renascença havia transformado as Humanidades, de meras disciplinas propedêuticas, em estudos fundamentais e autónomos. A coerência da reorganização universitária impunha, pois, a instauração de um novo ensino preparatório para a Universidade, ou ensino secundário, para empregarmos a linguagem atual, e com efeito é a D. João III que a instrução pública deve simultaneamente os fundamentos deste ramo escolar e a renovação pedagógica e científica do ensino das Artes.
Em 1541, o reitor Fr. Diogo de Murça fazia sentir ao rei a deficiência que em Coimbra notava no ensino dos “princípios da latinidade”, como que a atrair a sua atenção para a urgência da reforma dos estudos menores. O rei assim o compreendeu; e, poucos anos volvidos sobre esta sugestão, apoiada seguramente por outros dirigentes, fundava com largueza de vistas e sem olhar a despesas, o Colégio das Artes em Coimbra, com o qual simultaneamente elevava o ensino das Humanidades a um plano nunca mais ultrapassado e obviava à emigração de bolseiros e, por esta, ao possível contágio das ideias luteranas. André de Gouveia, grande pedagogo da Renascença e então principal do Collège de Guyenne, de Bordéus, foi o organizador emérito da nova escola, cujas aulas de Latim, Grego, Hebraico, Matemática e Filosofia se inauguraram solenemente em 21 de Fevereiro de 1548 com a De liberalium artium studiis oratio, de Arnaldo Fabrício (Coimbra, 1548). Verdadeiro colégio real, de ensino gratuito, a sua fundação representou como que a réplica portuguesa do Collège de France. Os estatutos de Paris e do colégio coimbrão “quase todos são uns”, dizia-se; e, para além da semelhança do regimento, André de Gouveia como que transplantara em Coimbra um colégio francês. Com ele vieram, de Bordéus, Nicolau Grouchy, comentador de Aristóteles e futuro tradutor da História dos Descobrimentos e Conquista da Índia de Fernão Lopes de Castanheda, Guilherme Guerente, Arnaldo Fabrício, Elias Vinet, arqueólogo e matemático, Jorge Buchanan, grande humanista, poeta e historiador escocês, e seu irmão Patrício, e os portugueses Diogo de Teive, João da Costa e António Mendes, aos quais agregou, dos mestres estantes em Portugal, seu irmão Marcial e Mestre Eusébio. O Colégio das Artes foi a última grande fundação de D. João III, porém efémera, porque o rei como que se temeu da própria obra. Pelo regimento primitivo o colégio era completamente independente da Universidade, importando esta autonomia não só desembaraço administrativo como emancipação da tutela teológica; mas após a morte de André de Gouveia, que sobreveio pouco depois da sua vinda para Coimbra, em 9 de Junho de 1548, a autonomia do Colégio não só foi limitada com a atribuição da inspeção ao reitor da Universidade, como a vida dos professores se tornou intolerável: suspeitas, competições, invejas, lutas do Principal, e por fim a prisão nos cárceres da Inquisição, “por sentirem mal da fé e serem da seita de Lutero”, de João da Costa, o Principal, Diogo de Teive e Jorge Buchanan.
Acusação exata para este, como posteriormente se viu, depois do seu regresso a Inglaterra, mas não para aqueles, que apesar de familiares de luteranos e indulgentes para os inovadores e inovações, jamais transpuseram a religiosidade interior que o incipiente evangelismo parisiense advogou.
Furta-se ao nosso objetivo a história do Colégio, aliás narrada recentemente numa tese muito documentada. Para figurarmos, porém, a sua importância no ensino público, bastará aludir à frequência. Segundo o Dr. Mário Brandão, “em meados de Abril de 1548 os estudantes ainda não são mil, mas em fins desse mês já ultrapassam esse número, e em 12 de Dezembro quase atingem já o de 1200, para virem a orçar pelos 1500 no Verão de 1550; e na derradeira década do século, depois da entrega do colégio aos jesuítas, “ouviam as preleções dos mestres da Companhia uns 2500 a 2600 estudantes”. Tão numeroso concurso de artistas, ou liceais, se quiséssemos falar em linguagem de hoje, o qual nos dá quase a medida dos que então aspiravam às profissões liberais e científicas, repartia-se em duas classes: alunos externos, a grande maioria, e alunos internos — todos sujeitos ao mesmo regime portas a dentro. O internato não era idêntico ao dos colégios dos nossos dias, porque havia três grupos de alunos: os porcionistas, que pagavam semestralmente o seu sustento, constituído por “porções” ou alimentos diversos; os camaristas, que se alimentavam à sua custa, fornecendo de fora os alimentos, que eram preparados na cozinha do colégio, e os familiares, estudantes pobres, sustentados pelo colégio a troco de alguns serviços.
Em 1555, o Colégio das Artes, já desfigurado, teve o seu termo natural — a entrega à Companhia de Jesus, que desde então até à sua expulsão de Portugal deteve o monopólio do ensino secundário. Nascera sob o signo da Contra-Reforma, e as vicissitudes e dramas da sua história não são mais do que a consequência da nova ideologia rapidamente triunfante.
Começa então um período novo, novo nas ideias, nos métodos e na finalidade do ensino, que veio a concretizar-se no domínio absoluto do Ratio studiorum e cuja narração ultrapassa o limite fixado a este capítulo.
Com a Universidade e o Colégio das Artes, Coimbra converteu-se na cidade escolar portuguesa. Detendo o monopólio do ensino superior e quase o do ensino secundário, todos os candidatos e amantes do saber careciam de se alojar dentro dos seus muros. Daí, a fundação de numerosos colégios, criados uns por D. João III, outros por particulares, e a maioria pelas ordens monásticas.
Entre os colégios fundados no reinado de D. João III, além dos quatro de Santa Cruz e do Colégio das Artes, merecem recordar-se os de S. Pedro, de S. Paulo, do Espírito Santo, da Trindade, dos Carmelitas Calçados, da Graça, de S. Boaventura, de S. Jerónimo e de S. Bento. Casas de residência para os que se dedicavam ao estudo ou alcançavam graus académicos, foram também escolas de preparação científica, no sentido largo da palavra, e por eles Coimbra adquiriu uma fisionomia singular, que conservou até à extinção das ordens religiosas em 1834.
Com a instauração da dinastia de Avis, sancionada pelas Cortes como expressão da independência pátria, a vida da nação renovou-se profundamente. Sob o aspeto intelectual, a escola e as livrarias são hoje para nós os marcos representativos desta renovação. Acabamos de delinear o quadro do ensino público; e se nos voltarmos para as livrarias encontraremos na sua nova feição o câmbio de ideias e o alargamento do horizonte intelectual. Foi no reinado de D. João I que se organizou a primeira livraria da Coroa, não meramente pessoal, que D. Duarte, D. Afonso V e D. Manuel conservaram e aumentaram. O exemplo do rei de boa memória foi uma sugestão viva para os filhos; e na sua corte, onde as inquietações morais se volveram reflexivas e sabiamente conscientes, “a ínclita geração, altos infantes”, no verso camoniano e no sentir da grei, se consumiu na ânsia de saber, convertendo as suas moradias em mansões de estudo, com livrarias, que hoje só pela imaginação podemos povoar, salvo a do Infante Santo, D. Fernando, que nos legou no seu testamento a descrição dos quarenta e quatro códices que possuiu. Pelo rol dos livros de D. Duarte pode recompor-se em parte a livraria de D. João I. Teófilo Braga, no primeiro volume da História da Universidade de Coimbra, estudou com sagacidade este assunto, interessando apenas ao nosso ponto de vista uma rápida visão do panorama que abrangia. Nele se divisam obras jurídicas, como as Conclusões de Bártolo, o Código com o comentário de Cino de Pistóia, e as Partidas de Afonso, o Sábio; políticas, como o Regimento dos Príncipes, de S. Tomás de Aquino, ou de Egílio Romano; religiosas, como os Evangelhos; literárias, como o Livro das Trovas de D. Dinis, a Demanda do Graal, e a Confissão do Amante, do inglês John Grower; históricas, como a História Geral de Espanha; e livros de cetraria e venatória. Se se atribuir o Livro da Montaria a D. João I, e não há razões para que se lhe não atribua pelo menos a colaboração neste tratado, recentemente impresso por um dos mais notáveis eruditos da nossa época, o académico Esteves Pereira, o rol indicado por seu filho e sucessor é pequeno.
Se inventariarmos as citações deste livro, teremos de incluir na livraria real escritos de Padres da Igreja (Santo Agostinho, Beda) e doutores, como S. Bernardo; livros de Gramática, Retórica e Filosofia, isto é, de Aristóteles, cujo tratado Da Alma parece conhecer; e de astronomia, como Ptolomeu, os árabes Albenazar e Ali ben Ragel, traduzido em parte, em 1410-1412, e existente na biblioteca bodleiana de Oxford, assim como o Livro de Mágica que compôs Juan Gil de Burgos, o qual é, sem dúvida, o “grande livro de astronomia” citado no Livro da Montaria.
Todas as ciências se encontram, assim, representadas na livraria real, sendo de notar particularmente a astronomia, confundida ainda com a astrologia. É que a livraria não servia apenas de regalo ou satisfação de curiosidades intelectuais: era como que a condição teórica da grande empresa de expansão ultramarina, da formação e estudo dos descobridores, cuja calma segurança se não compadecia com o cego espírito de aventura. Foi esta função que conferiu à livraria palatina um valor singular, convertendo-a num foco de cultura e integrando-a na vida profunda da nação. Os sucessores de D. João I reconheceram e dilataram esta herança, especialmente D. Afonso V e D. Manuel. D. Afonso V, por assim dizer, abriu-a ao público, adquirindo códices, curando da sua instalação, estipendiando escrivães e iluminadores, e confiando a sua guarda e conservação ao historiador Gomes Banes de Azurara (desde 1451, pelo menos), que nela terminou a Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné e colheu a vasta erudição histórica e moralizante que peja e caracteriza os seus escritos. Tudo o que no século XV teve renome europeu, na literatura, clássica ou contemporânea, na história e na ciência, encontrou um eco de simpatia em Portugal.
Pelo inventário da livraria de D. Manuel, descoberto e publicado por Sousa Viterbo em 1901 numa memória da Academia das Ciências de Lisboa, se verifica quanto havia aumentado a livraria real; e tanto este fundo, como as citações dos escritores do final do século XV e dos princípios do século XVI, documentam exuberantemente o interesse pelas novidades e pelas ideias, a tal ponto que não careciam de abonar-se com exemplos estranhos os portugueses que no século XVI, como Fr. Diogo de Murça, formaram grandes bibliotecas. Em 19 de Janeiro de 1483, foi concedido o privilégio da isenção de impostos para os livros que os franceses Guilherme de Montrete, Francisco de Montrete e Guido importassem e vendessem em Lisboa, porque “ao bem comum” convinha “em nossos regnos aver muitos livros”. Assim se consagrava oficialmente a maravilhosa invenção da imprensa, que difundindo o livro condicionou uma nova fase da história da Humanidade.
|
|


 Instituições de Cultura - Período (...)Instituições de Cultura - Período (...)Instituições de Cultura - Período (...)Instituições de Cultura - Período (...)Ver índice completo
Instituições de Cultura - Período (...)Instituições de Cultura - Período (...)Instituições de Cultura - Período (...)Instituições de Cultura - Período (...)Ver índice completo