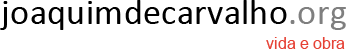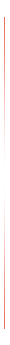Embora seja incerta a duração da cultura megalítica e se não precisem as transformações e evoluções que sofreu, temos quase por seguro que ela foi no nosso território uma cultura relativamente uniforme, apesar das fases de desenvolvimento que Bosch Gimpera lhe discrimina Salvo a notável necrópole de Alcalar, no Algarve, as demais variações não parece terem atingido, com efeito, a profundeza e a densidade suficientes para se lhes conferir a categoria de períodos nitidamente diferenciados.
Com as culturas castreja e transtagana, que lhe sucedem, a situação modifica-se: a uma estrutura sucedem outras estruturas, e à unidade a diversidade.
No conjunto, estas duas culturas representam um avanço no que respeita, pelo menos, aos recursos técnicos, à divisão do trabalho, à expressão da sensibilidade artística e ao progresso da vida em comum; porém, singularmente consideradas, apresentam-se-nos com peculiaridades típicas, que quebram a uniformidade dos tempos neolíticos e estabelecem no território, pelo menos, duas regiões culturais, separadas, grosso modo, pelo Tejo. A fisionomia que apresentam não é apenas de procedência indígena, como resultado da evolução da cultura megalítica. Assentes, sem dúvida, num fundo local herdado da cultura neolítica, impossível de precisar com algum rigor, os avanços e rasgos peculiares que as caracterizam são de importação, trazidos uns pelas gentes que invadiram o território e introduzidos outros pela via pacífica das relações com as demais culturas peninsulares e das regiões banhadas pelo Mediterrâneo.
São, assim, culturas formadas pela inserção, fusão e transformação de elementos forasteiros com o fundo aborígene ou sedimentado pelos séculos da cultura neolítica, e que divergem entre si pela extensão e profundidade da assimilação e, porventura, do vigor com que operaram a modificação dos elementos recebidos.
Ao entrarem na Península, em massa, no século VI a. C. e em imigrações parciais, ao que parece, havia já dois séculos, os invasores celtas ou celtizados eram portadores da chamada cultura hallstatiana, correspondente à primeira fase da idade do ferro na Europa Central, e caracterizada pela transição do bronze para o ferro, pelo aparecimento da indústria siderúrgica e pela prática frequente da incineração.
Era uma cultura mais avançada que a cultura dos povos que subjugaram, quiçá mediante a novidade do punhal de antenas, e a cujo influxo estes não puderam furtar-se. A assimilação das novas técnicas e, porventura, de novas formas de comportamento coletivo não se operou, porém, de maneira idêntica no território da Península, e daí a formação de algumas culturas regionais, mais ou menos peculiares, que persistiram com vária fortuna e vitalidade até à romanização, pelos séculos II-III da nossa era.
Segundo Obermaier e Garcia y Bellido, podem constituir-se na céltica peninsular três grupos geográfico-culturais principais, bem diferenciados: o da meseta central, rico em tipos e decoração de armas; o celtibérico, culturalmente o superior, representado principalmente pelos achados de Numância, notável pela cerâmica policroma e de figuras pintadas, e o galaico-português, caracterizado pelos castros, “em geral de cultura pobre, mas extraordinariamente abundante em ruínas de velhas povoações, cujas casas diferem das dos grupos anteriores por serem de planta predominantemente circular ou quase”.
Só este grupo importa ao nosso objeto, e, como a sua designação indica, foi o castro ou citânia que lhe deu o nome, após as notáveis exumações de Martins Sarmento em Briteiros e Sabroso.
Tanto quanto é possível generalizar os resultados das explorações arqueológicas, ou melhor, extrair as implicações socioculturais que encerram, o nosso homem proto-histórico viveu em povoados, surgindo a villa, isto é, a moradia rural de um proprietário ou de uma família, só depois da pacificação romana, da qual, aliás, foi também instrumento. A habitação e o sistema de povoamento não foram, porém, uniformes; enquanto ao Sul do Tejo, especialmente no Cyneticum (Algarve), a população se estabeleceu frequentemente em sítios abertos e de acesso franco, em núcleos que iam da aldeia à cidade, ao norte do Mondego e, predominantemente e mais tipicamente ao norte do Douro, na Callaecia, parece ter procurado, exclusivamente ou quase, locais de acesso difícil, que ainda se protegiam com fortificações.
Unanimemente se lhes reconhece hoje o cunho da celtização, mas divergem as opiniões sobre o seu significado e estrutura, pois se abunda quem os considere como locais de habitação estável, também há quem, com a autoridade de longos estudos, os julgue “centros de defesa e de refúgio, como o “Ringwald” de outros países, com a massa geral da povoação dispersa no território, tipo que persiste através das “civitates” da época romana, que incluem todo o território dependente delas».
Ao Sul do Tejo, como adiante veremos, tudo sugere que assim tenha sido, porém ao Norte a localização e fortificação denunciam, sem dúvida, a preocupação da defesa e da segurança, não repugnando admitir que tivessem existido na Callaecia fortificações em que as tribos se refugiassem nas ocasiões de perigo, à semelhança de Numância, que foi o castelo dos Arévalos do N. do Douro, corno Palância, Intercacia e Cauca o foram dos Vaceus. Assim parece ter sido, na relatividade das condições, dentre outros, o Monte do Castelo de Penafiel; não obstante, a diversidade do espólio estratigráfico, que nalguns castros vai dos instrumentos líticos aos objetos de manufatura metálica, assim como a abundância destes aglomerados, normalmente peque-nos, de aspeto uniforme e não raro próximos uns dos outros, inculcam que foram também, e predominantemente, sítios onde sucessivas gerações viveram uma vida de retardatários, rude e pobre, em pleno acordo com o meio. O castro pode, assim, considerar-se a expressão topográfica de uma cultura, que geograficamente dominou no território ao norte do Mondego, cronologicamente atingiu a plenitude na segunda idade do ferro, pelos três séculos anteriores a Cristo e rios primeiros da nossa era 8, sociologicamente se dispersou em numerosas comunidades de escassa população e situadas perto umas das outras, e tipologicamente se apresenta uniforme em todo o noroeste, porque, como observou Lopez Cuevillas, “do Douro ao Ortegal são idênticas as formas das espadas, das alfaias e das fíbulas, como idênticos são no fundamental os motivos decorativos e a construção das casas”.
Situado no interior ou próximo do litoral, sempre numa eminência de terreno propícia à defesa, a qual se robustecia com uma cintura muralhada, quando não, como na citânia de Briteiros, por três circuitos de muralhas, com terras cultiváveis e vales adjacentes, com seu curso de água, do ribeiro à confluência de rios, o povoado castrejo testemunha um teor de vida de relativo progresso na construção da moradia, na divisão do trabalho, na utilização dos metais, no cómodo dos utensílios e alfaias, da cerâmica ao carro de rodas, porventura, e na própria expressão da organização social, que a nosso ver não traduz o sentimento da convivência urbana, dada a ausência de largos e de edifícios destinados a reuniões não religiosas, mas a ideia de parentesco, pois como já observou Alberto Sampaio, “posto que uma ou outra vez se vejam arruamentos, as edificações afetam contudo uma disposição particular: Juntam-se em grupos de poucas casas, com um pátio comum ladrilhado, não raras vezes em xadrez ou quinconce — disposição muito característica e que deve ser tomada na maior consideração, pois indica que a população se repartia em pequenas unidades”.
Já não denuncia uma sociedade primitiva, mas uma civilização muito rudimentar, de configuração homogénea, pela simplicidade da técnica, facilmente assimilável, confinada e localista, como impunham a situação dos povoados e o relevo do território, fora das linhas naturais de invasão e, portanto, das relações com o exterior. Tudo leva a crer que as naves fenícias e cartaginesas se detivessem nos portos e fundeadouros da costa calaica para fazerem aguada ou mesmo para carregarem estanho, de cujo comércio tiveram o monopólio até à ocupação romana de Gádir (Cádis); o que se sabe da rota deste metal e a possível existência de cultos fenícios nestas paragens inclinam a conjetura para o campo da verosimilhança. A influência civilizadora deste tráfico, porém, não ultrapassou o litoral, aliás habitado desde os recuados tempos do asturiense, notadamente entre o Lima e o Minho, por gentes que se sustentariam de mariscos e de peixe, mal se indiciando relações com o Norte europeu, que não com o Mediterrâneo, pois o pouco que se sabe acerca do comércio e do intercâmbio de produtos tem carácter indígena.
Tudo isto é, porém, secundário e marginal em relação ao nosso objetivo, visto não trazer esclarecimentos sobre a estrutura e rasgos da vida intelectual e moral. Só mediante vagos informes literários dos antigos, que apenas atentaram neste recanto após a retumbância da guerra de Viriato e das conquistas romanas, e de alguns despojos sumidos, recolhidos pela investigação arqueológica, é possível entrever, obscura e conjeturalmente, a alma do homem castrejo, sensível, acima de tudo, segundo parece, ao respeito dos vínculos da consanguinidade, ao sentimento terrantês, de indómita tenacidade, e ao luxo do adorno pessoal.
Topograficamente, é uma cultura típica das nossas regiões setentrionais, algo refratárias, ao contrário das da planície e do litoral, à tendência assimiladora e à submissão. Habitando em eminências de terreno, que então se apresentariam como “ilhas, emergindo de um mar de arvoredo inextricável”, o castrejo associou a pecuária à agricultura, sustentando-se de carne de cabra e de bolotas, de cuja farinha fabricava pão, bebendo água, leite, muito provavelmente de cabra, e uma espécie de cerveja, pois o vinho era raro, empregando a manteiga em vez do azeite.
O maior peso do trabalho doméstico e agrícola parece que recaía sobre as mulheres, praticando os homens a rapinagem e adestrando-se para a guerra mediante a prática de «lutas gímnicas, hoplíticas e hípicas, e exercitando-se para o pugilato, a corrida, as escaramuças e as batalhas campais” (Estrabão, III, 3, 7).
Torques, braceletes e arrecadas, as joias típicas dos castros, revelam claramente o gosto do luxo, sustentado pelas indústrias regionais de ourivesaria, “com independência e originalidade artísticas inconfundíveis” e de joalharia. Estes objetos são singularmente característicos, mas o particularismo castrejo não se acusa apenas nas artes de adorno pessoal e de ostentação pública, como as toscas estátuas de guerreiros, de incerta significação e de localização restrita ao NO peninsular; exprime-se também, e robustamente, na larga utilização do bronze em variados instrumentos, um dos quais, o machado de talão e dupla aselha (palstaves), é peculiar da Callaecia, e na religião.
A diversidade de deuses indígenas (v.g. Aernus, Bormanicus, Brigus, Coronus, Casunebecus, Durbedicus, Tameobrigus, Turiacus, Edovius, Navia, etc., locais uns, étnicos outros, segundo parece, de cultos, como o das fontes, difundido sobretudo nos conventus de Braccara e Lucus, da serpente, do sol, da guerra, ao qual sacrificavam animais e prisioneiros (Estrabão, III, 3, 7), de objetos, como o machado, e da prática de sacrifícios e aruspícios (Estrabão, III, 3, 7), atestam a vitalidade e formas do sentimento religioso dos povos calaicos, que nem sempre, como é presumível, representariam por ídolos ou imagens.
É, porém, na estabilidade da cultura material, patente na continuidade das formas arcaicas através da assimilação tardia e fruste de algumas inovações técnicas e utilitárias, como o vaso campaniforme, na coesão da comunidade e no indomável sentimento terrantês, compenetrado intimamente com a altivez da independência, que residem as características peculiares do nosso antepassado castrejo.
Escreveu Estrabão (III, 3, 8) que o primitivismo de calaicos, ástures, cântabros e celtibéricos provinha da pobreza das terras e do isolamento em que viviam entre montes e bosques, só começando a sentir os benefícios da civilização com a chegada dos romanos.
A explicação não é desprovida de fundamento, dada a constância da influência geográfica, pois “é interessante notar, como manifestação do carácter unitário de uma parte da população do Norte português, escreveu Ricardo Severo, que ainda hoje nas regiões montanhosas, onde o regime é pastoril e comunalista, se veem os povoados constituídos como as antigas cividades: o casario, de perímetros retos ou circulares, agrupado como uma colmeia no cocuruto dos montes, sem muralhas, todavia, abrigando uma colónia trabalhadora e pacífica que representa atualmente o primitivo habitante ancestral, dentro do seu ambiente arqueológico, como em outras eras”.
Não é, assim, pela variedade e riqueza da cultura material, que os despojos arqueológicos depõem ter sido confinada, retardatária e pobre como fruto natural da tendência arcaizante e do isolamento, que os castrejos revelam a peculiaridade da sua índole; é, como dissemos, na tenacidade do sentimento terrantês e no orgulho do particularismo gentilício.
Foram estes vincos, quiçá mais duradoiros do que a fragilidade da vida e as mutações da História podem levar a crer, que impressionaram os escritores antigos e cuja facies denotava a seu ver uma civilização indígena diversa da Europa central e oriental —, pelo que se detiveram na respetiva descrição, aliás não tão pormenorizadamente como desejaríamos.
A resistência contra as hostes de Roma, que chegou a ponto de preferir a morte à servidão, como na defesa do baluarte do Monte Medúlio, na foz do Minho, contra o invasor romano, testemunha a vitalidade destes sentimentos, mas só deparamos com dúvidas e incertezas quando queremos apurar a organização social e política que lhes deu alento e de que foram projeção. Cumpre, não obstante, interrogar os escassíssimos testemunhos que até nós chegaram, em ordem a uma resposta verosímil, pois não é possível avaliar a influência espiritual da romanização e da cristianização sem uma ideia do homem e da sociedade que estes dois acontecimentos trouxeram para a História. Tentemos, pois, a precária empresa, na persuasão antecipada de que só colheremos conjeturas e hipóteses.
A primeira impressão que suscita a carta da distribuição dos castros no nosso território do Norte é a da dispersão destes povoados, como que a denunciar o gosto da existência livre e a justificar o dito de um geógrafo grego, de que a Hispânia era o país das mil cidades.
Geograficamente, o dito é verdadeiro, mas já não parece sê-lo sociologicamente, pois as rudes condições da vida e da atividade, da pastorícia, por vales que seriam brenhas, ao cultivo extensivo, pouco variado e muito contingente das terras altas, haveriam de impor inexoravelmente a cooperação e o trabalho em comum.
No tosco casebre, de pequeno diâmetro, por vezes inferior a três metros e meio, como no castro de Santa Luzia (Viana do Castelo), com paredes de pedra solta, desprovido de compartimentos interiores e de acomodações, só o abrigo do teto e o fogo da lareira proporcionavam algum conforto. Aí dormia a família na promiscuidade dos animais, mas o agrupamento familiar já não exprimia apenas a necessidade biológica da reprodução da espécie, pois parece que se constituía monogamicamente —, more graeco, diz Estrabão — e se desenvolvia no sentimento da hierarquia das gerações, como revela o costume de oferecerem às refeições os primeiros lugares dos bancos, que encostavam às paredes, às pessoas mais idosas e categorizadas.
A fonte capital de informação acerca da organização social das nossas populações do Nordeste, cujas ilações parece poderem estender-se a toda a região de entre Douro e Minho, é o pato de hospitalidade e de clientela, uetustum antiquom, celebrado em 27 d. C. entre a gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum et gentilitas Tridiauorum ex gente idem Zoelarum.
É um testemunho simultaneamente fundamental e fundamentante.
A primeira ilação que sugere é a da existência de uma hierarquia de agrupamentos sociais: a família, na base, a gentilitas, no meio, relacionada com a gens, com a qual se não confundia.
A discriminação das gentilitates dentro da mesma gens, mostra que a gentilitas abrangia um certo número de famílias, devendo considerar-se, portanto, como sinónimo de clan.
Na gentilitas, os indivíduos sentiam-se vinculados entre si pelos laços de comum parentesco, a ponto de anteporem o nome gentílico ao patronímico, o que mostra o valor secundário e subordinado da família em relação ao clã; por isso o castro, além de centro de refúgio e de defesa, representa como que a amplificação geográfica da família, tanto mais que o perímetro médio destes povoados é pequeno, com escassas dezenas de casas e, consequentemente, de população, cujo teor de vida assentou, como é evidente, no predomínio absoluto da comunidade sobre os indivíduos que a constituíam.
Destas considerações como que se deduz, à maneira de corolário, que na cultura castreja, ou se se preferir, na região celtizada do Norte, o poder social teve uma origem tribal, isto é, coincidiu com a comunidade de sangue, e não, de modo geral, com a hegemonia do oppidum ou de um conjunto de cidades sobre os habitantes de certo território mais ou menos delimitado, com base num princípio mais lato e independente do parentesco. Terá coincidido, porém, a realidade histórica com esta construção lógica?
O assunto tem sido controvertido, especialmente entre os historiadores do Direito hispânico, podendo agrupar-se as opiniões em torno das conceções fundamentais do Estado territorial, de extensão mais ou menos ampla, do Estado-cidade, superfamiliar, como nos Berberes sedentários de Argélia, em que cada aldeia possui governo e legislação própria, oral ou escrita, como se fora Estado independente, e a do Estado gentilício ou patriarcal, baseado na comunidade de sangue, respetivamente formuladas as duas últimas por Adolfo Schulten e por Joaquín Costa.
A nosso ver, o problema não admite uma solução uniforme, quer para o conjunto da Península, onde só na época romana dominou em toda ela o mesmo poder público obediente aos mesmos princípios, quer para o nosso território. A falta de unidade social e étnica da Lusitânia é um facto bem assente, e dele resulta, como lógica consequência, que os nossos remotos antepassados dos tempos proto-históricos se repartiram por várias unidades políticas, de configuração diversa. A carência de elementos não permite fixar-lhes o número, a extensão e a estrutura, mal se podendo ir além da diversidade das duas regiões que o Tejo separa. Na região transtagana, com efeito, ou melhor, na mesopotâmia de entre Tejo e Guadiana, tudo indica, como adiante veremos, que, apesar da celtização de largas zonas, dominou a organização territorial do Estado, enquanto na região cistagana o mal diferenciado mando social parece ter tido outro fundamento. Aqui começa o predomínio do povoamento castrejo, cuja tipologia se acentua na marcha para o Norte, e se entra, segundo Estrabão, no território da Lusitânia primitiva, no qual cumpre distinguir a região de entre Tejo e Douro, e a da Callaecia, ao Norte do Douro.
Entre Tejo e Douro não há elementos que permitam estabelecer uma opinião segura, visto ser quase tão verosímil a estrutura tribal como os primeiros lineamentos da organização territorial.
A enumeração dos povos exarada na inscrição da ponte de Alcântara, o culto de divindades étnicas e a abundância de topónimos célticos, parecem inculcar que as tribos teriam pela época da invasão romana carácter etológico e político, havendo atingido um nível elevado na exploração agrícola, se é exata a opinião de A. E. Watkins, quando situa nos campos do Tejo e do Douro um dos mais antigos e variados centros de cultivo de plantas.
A reflexão sobre as parcas notícias da vida e da campanha de Viriato sugere, porém, como mais verosímil, que os romanos vieram encontrar nesta região uma organização social em que havia possidentes poderosos ao lado de miseráveis pobretanas, isto é, desigualdades económicas que acarretariam naturalmente diferenciações sociais e, porventura, uma hierarquia de mando territorial, não baseado já no parentesco. Foi sobretudo na Lusitânia, e de modo geral nos territórios do Norte da Península, que os escritores antigos situaram os focos de onde procediam os bandos de salteadores que infestaram as terras férteis do Sul, especialmente da Bética, do Cineticum e da Turdetânia, e o bandoleirismo, que parece ter sido endémico, resultou em grande parte da carência de recursos. A boda de Viriato, no relato de Deodoro da Sicília, pelo alarde de riquezas do sogro, Istolpas, corrobora a desigualdade económica, assim como revela a existência de uma atitude prudente perante a política romana, em manifesto contraste com a repulsa indómita do caudilho; mas iria a desigualdade a ponto de quebrantar os laços tribais, fundando, embora incipientemente, uma organização territorial do mando?
O caudilhismo extra-patriarcal de Viriato, sem sentido familiar, tribal ou comunitário, assentou no comando de gentes recrutadas individualmente, associadas pelo prestígio do chefe, pelo desejo de continuarem a viver a seu modo, pela esperança de melhoria económica, mas também revoltadas indignadamente, com o furor da vingança, contra a perfídia e a carnificina de Galba (150-151? a. C.), contra as espoliações e latrocínios das autoridades romanas, contra a traição à palavra dada.
Poderia o comunitarismo tribal, por essência confinado e sem diferenciações acentuadas, manter tantas guerrilhas, que por vezes se apresentaram como expedições punitivas de um verdadeiro exército, sustentar a luta tão prolongadamente, abastecer de armamento forjado milhares de soldados — talvez a razão capital das surtidas e campanhas de Viriato no Sul da Península, isto é, para as regiões do cobre —, e levar a campanha para tão longe do agro da tribo?
A guerra viriatina, que assinala os rasgos característicos do sentimento da independência e, sob o comando do lusitano Kaukeno, a primeira investida de gentes do nosso território por terras do Norte de África, porventura de Arzila, não é prova decisiva, mas inclina fortemente o espírito para o alvorecer da conceção territorial do mando coletivo.
Do território ao Norte do Douro também não chegaram até nós testemunhos que fundamentem solidamente uma opinião; não obstante, a correlação de alguns factos conduz-nos para outra conceção mais rudimentar e primitiva.
É nesta região que os castros apresentam a facies típica, “diferente da de estações sincrónicos da Península e até do próprio país, como as do castro de Santa Olaia” (Maiorca), coroando em tal quantidade as eminências de terreno que não, é exagerado calculá-los em quatro mil no âmbito dos conventus de Lucus, Braccara e Asturica. Tão grande dispersão da população foi ditada, sem dúvida, pelo condicionalismo geográfico e económico, mas procedeu também da diversidade das tribos, como, por exemplo os leunos, ao sul do Minho, os brácaros, na região de Braga, os calecos, ao Norte desta região, os límicos, no vale superior do Lima, os luancos, no vale médio deste rio, os gróvios, a norte da divisória do Lima e do Cávado, os querquernos, na região de Bande, os bibalos, entre a vertente oriental da Serra de Larouco e o Tâmega, os equésios, na vertente ocidental, os tamaganos, no vale de Monterrei, os celerinos, no vale superior do Cávado, etc..
Agrupamentos numerosos mas dispersos, ocupando por vezes áreas de pequena extensão, como os límicos, a vida interna das tribos não podia deixar de ser peculiar e autónoma. Descrevendo os costumes dos montanheses, entre os quais situa os calaicos, Estrabão refere que despenhavam os criminosos e lapidavam os parricidas, a quem expulsavam “para fora dos limites”.
O informe comporta interpretações diversas, filológicas e de crítica interna; não obstante, sempre fica líquido que o parricida era um criminoso que se não confundia com os demais e se castigava com a vindicta coletiva do grupo. A circunstância de se lhe poupar a vida inculca que a expulsão da comunidade dos vivos significava eticamente a exclusão da sociedade mítica dos antepassados —, indício claro de que o vínculo social assentava na comunidade de sangue.
Um outro passo do mesmo geógrafo corrobora esta ilação: é aquele em que diz que os mesmos montanheses, quando obtinham vinho, que escasseava, costumavam consumi-lo em grandes festins familiares.
Estes factos só encontram explicação satisfatória num regime de agrupamento social que reputa a participação no sangue como o supremo valor coletivo e a expulsão, castigo mais terrível que o da morte, por importar, miticamente, o isolamento e a perda da solidariedade do grupo.
Qual fosse a extensão deste grupo não é passível apurar com segurança; admitimos, no entanto, como verosímil, que tivesse sido a gentilitas, para empregar a palavra com que os romanos designaram a instituição que encontraram.
Não é crível, na verdade, que o parricida fosse apenas expulso do agro da família, se acaso esta possuiu terras em regime privado, ou da circunvalação do castro. A penalidade física tinha de ser acompanhada da suprema maldição e do esconjuro das mais terríveis pragas, por forma que para sempre ficasse inibido de coabitar com os parentes e, portanto, privado da solidariedade do grupo. Di-lo a razão lógica, repete-o a etnologia comparada, e comprova-o o referido pato de hospitium entre as duas gentilitates dos Zoelae com o apoio de uma razão de facto.
Com efeito, deixando de lado alguns dos problemas que a discutida inscrição suscita, como o da cronologia, localização dos Zoelae, sentido das palavras gentilitas e gense, para só considerarmos o que importa ao nosso objetivo, ela manifesta que a gentilitas foi um agrupamento social e político autónomo nesta zona do território. Os dados da inscrição mostram que nele imperavam normas de índole jurídica, cuja aplicação pressupunha a divisão dos indivíduos em parentes e não-parentes, isto é, uma sociedade organizada em função dos vínculos de parentesco. A gentilitas abrangia várias famílias, como a gens várias gentilitates, mas os três agrupamentos parece não terem tido entre si a mesma correlação, porque se as famílias estavam integradas e subordinadas à comunidade da gentilitas, estas eram independentes em relação à gens. Formavam um pequeno mundo fechado, constituído pelas famílias descendentes de um antepassado comum, possuindo deuses próprios, normas privativas, economia comum e obrigações peculiares, entre as quais se destacariam a da solidariedade na defesa, no trabalho e na vindicta. Não é possível averiguar se a família se constituía endo ou exogamicamente, mas pode afirmar-se que a gentilitas excluía rigorosamente quem dela não fazia parte.
Os estranhos pertenciam a outra sociedade, porque outro era o sangue que lhes corria nas veias; por isso, se estabeleciam patos de hospitalidade, como o desta inscrição, entre Desoncos e Tridiavos, com os quais se atenuava a rigidez das barreiras erguidas pela emulação do parentesco. Os patos podiam ser coletivos, como este, abrangendo os membros de outra gentilitas, “mútuos e recíprocos, obrigatórios e hereditários para todos os cogentiles”, o qual recebeu dos romanos o nome de hospitium, ou individuais, designados de clientela, e que supõem uma ordenação hierárquica entre um indivíduo que protegia e um cliente que recebia proteção.
A gentilitas mostra ainda algumas feições do clã das sociedades inferiores; se já não dá indícios de conservar o culto do totem, se é que o teve em épocas mais remotas, mantém todavia a mesma constituição doméstica, atribui à consanguinidade idêntico valor místico e, como nele, os seus membros reconhecem-se pelo uso do mesmo nome comum. Os escassos testemunhos da arqueologia e da etnografia comparada arrastam irresistivelmente o espírito a encontrar-lhe as raízes no terreno, aliás escorregadio, da influência céltica, por se verificar em território onde a celtização deixou sulcos no onomástico, no mobiliário dos castros (armas, cerâmica, fíbulas, etc.), no costume de a família habitar e dormir, promiscuamente, numa só cama, na persistência de práticas comunitárias, na informação dos antigos, designadamente Pompónio Mela e Plínio, no próprio onomástico da inscrição, que a juízo de Adolfo Coelho contém nomes célticos, e na lenda do Lima, rio do esquecimento.
Em assuntos desta natureza, a aplicação do método comparativo traz frequentemente consigo a miragem ilusória, pelo salto, logicamente mortal, da parecença para a analogia e desta para a identidade; no entanto, o espírito, vencendo os obstáculos da dúvida, é irresistivelmente levado a pensar no clã céltico.
Esta organização social, assente no princípio da comunidade do sangue, desentranhou como sequela um regime económico e político extraordinariamente simples, em que a terra pertencia ao grupo de famílias que entroncavam no mesmo antepassado e o poder estatal se reduzia ao mínimo, assim como o Direito, a bem dizer restrito a normas de Direito privado (Tribal system).
A ocupação do solo era coletiva, nunca individual, não originando a propriedade diferenciações, nem o trabalho carecendo do braço escravo ou servil. No seio do clã os indivíduos eram iguais, dele se excluindo os estrangeiros, isto é, os indivíduos que não participavam no sangue, não podiam usar o nome gentilício e só subordinadamente nele poderiam entrar. O princípio sobre que assentava esta sociedade estava para além da transitoriedade dos indivíduos, de cujos interesses, compromissos ou vontades não dependia; por isso as instituições do clã se apresentavam como imutáveis e perpétuas e os seus costumes e práticas foram singularmente constantes e estáveis, perdurando com notável tenacidade.
Razão teve Alberto Sampaio em dizer que “o noroeste da Hispânia apresenta-nos no princípio do Império uma sociedade muito parecida com a da Gália e Britânia”, pelo que se compreende que os romanos, ao depararem com tais organizações, que ainda conservariam vincos do primitivo nomadismo pastoril e se baseavam num princípio que dificultava a gestão administrativa, procurassem fixar sedentariamente as gentes ou populi, enquadrando-os em circunscrições de base territorial (civitates), do que aliás também dá fé o pato de hospitium entre os Desoncos e Tridiavos. Conquanto a consanguinidade houvesse perdido sentido político na estrutura do Estado romano, perante o qual só havia indivíduos, pessoas jurídicas e instituições de Direito, Roma não destruiu as organizações nela baseadas, como não eliminou costumes e práticas inofensivas para a segurança militar e administrativa.
Os resultados desta política, como em geral os da romanização que a inspirava, não foram uniformes por todo o nosso território, havendo zonas, como a que nos ocupa, em que o isolamento e a vitalidade da tradição tornaram possível a transformação da comunidade tribal em comunidade rural, isto é, uma forma de agrupamento sedentário, no qual a cooperação agrária se organizou em função da exploração da terra como propriedade coletiva e o princípio xenófobo da consanguinidade cedeu com mais ou menos resistência à territorialidade da moradia familiar e das gentes.
É impossível seguir os passos desta transformação, que representa, de certo modo, o primeiro desvio da vida patriarcal e comunitária, por natureza retraída e compressora da individualidade, para a vida societária, de índole aberta e expansiva. A renovação do referido pato de hospitium em 152 da nossa era indica que os signatários ainda exibiam, em pleno e incontestado domínio romano, os nomes das comunidades étnicas a que pertenciam e não o das instituições territoriais a que estavam sujeitos, apesar de alguns já usarem nomes romanizados; e por outro lado a existência de vici com designação étnica, de que temos exemplo na lápide que os Vicani Atucanse(nses) (Amarante) dedicaram a Júpiter, mostra a transformação de comunidades em agrupamentos territoriais.
Apesar de delidos, notam-se ainda hoje os derradeiros vestígios deste comunalismo nalgumas localidades do Barroso, do Gerês e do Nordeste de Trás-os-Montes, a região onde é mais provável que tivessem vivido os Zoelae: “aldeias aglomeradas, rebanhos que juntam o gado de todos, afolhamento obrigatório com as parcelas em cultura sempre reunidas, interdição de tapar as terras e servidão dos pastos comuns, auxílio mútuo nas fainas agrícolas sujeitas a forte disciplina coletiva, aqui e além autoridade de um conselho de vizinhos e distribuição periódica de sortes para seara”.
É principalmente pelo condicionalismo do solo e do clima que Orlando Ribeiro explica a persistência de tais instituições e práticas, que têm sobrevivido aos impulsos e necessidades que as originaram, e fundadamente, por ser íntima a correlação do povoamento com a geografia agrária.
Sendo exata, a explicação não parece, porém, completa, porque a paletnologia deve ter também sua quota nos alicerces de um regime que tanto resistiu aos embates da jornada dos séculos. Acode naturalmente o paralelo com o rumrig da Irlanda e do País de Gales — regime característico céltico de comunidade rural explorando a terra de todos por sortes — e com o open-field system—, regime de cooperação agrária que parece radicar no comunalismo tribal céltico, e a analogia, conjugada com a celtização da Callaecia e da região dos Zoelae, leva-nos a crer que as instituições pré-romanas ao Norte do Douro tiveram por base os vínculos de parentesco e não interesses ou princípios supra e extrafamiliares, adstritos a uma área territorial delimitada.
A existência de deuses-étnicos nesta região confirma, por assim dizer, este modo de ver, ao qual a topografia castreja dá, por seu turno, valioso reforço. Poderia acaso uma sociedade onde existissem diferenciações resultantes da riqueza ou da hereditariedade do mando apresentar um sistema uniforme de assentamento urbano, no qual não havia lugar para grandes edifícios e as toscas moradias eram sensivelmente iguais na planta e nas dimensões? O castro pré-romano de Entre Douro e Minho foi a expressão social de uma corporação económica agrícola cujos membros viveram sob a ameaça constante dos ataques, e de uma comunidade de famílias iguais em direitos e encargos, na qual as funções estatais eram rudimentaríssimas e extremamente simples. Só o clã celtizado proporciona a explicação sociológica mais coerente, visto a sua estrutura excluir as desigualdades resultantes da propriedade e as diferenciações hierárquicas provenientes do exercício hereditário do mando. Apenas o parentesco confere ou recusa direitos, de tal sorte que o indivíduo estranho ao clã só nele pode entrar como subalterno, mediante a garantia de um patrono, cuja fiança de certo modo substitua, como no pato das duas gentilitates dos Zoelae, o privilégio do sangue.
Tal é o resultado da nossa inquirição —, o mais verosímil que os factos inculcam; cumpre agora atentar nas ilações que ele desentranha no plano da vida interior.
A conceção das sociedades castrejas como agrupamento baseados na consanguinidade permite, de alguma maneira, avaliar a extensão e a profundidade espiritual da romanização e da cristianização os dois acontecimentos que plasmaram indestrutivelmente a idiossincrasia das gentes que viriam a constituir a rocha viva da nacionalidade, e cujo sentimento terrantês, gosto da vida a seu modo e indomável constância de crenças haveriam de converter a autoctonia vegetante na gama de afetos que o apego à terra desentranha, e firmar mais tarde, nos lances incertos da Reconquista, o passo decisivo da Nação a Estado. É que uma comunidade tribal devém, por natureza, uma sociedade fechada e suspicaz, na qual o exclusivismo do vínculo que a religa e mantém conduz internamente à solidariedade e externamente à discórdia.
Ao abrigo das escarpas do terreno e do pano das muralhas, os moradores das cividades arrostariam, com efeito, solidariamente, os mesmos labores na adesão inconsciente ao valor místico do sangue. O princípio que os vinculava comunitariamente estava impregnado do sentimento vital da perpetuidade, fazendo dos indivíduos simples elos e do todo em que se integravam um ser com individualidade e destino próprios.
Internamente, no âmbito da tribo, o auxílio mútuo entre os agnados era a lei suprema; externamente, porém, nas relações com os vizinhos, isto é, com indivíduos e povoados que não remontassem aos mesmos antepassados, o princípio atuava, pelo contrário, como agente de exclusão e de discórdia. A situação e fortificação dos castros, se testemunham a solidariedade dos moradores também acusam claramente a prevenção contra estranhos.
É por causas políticas que Lopez Cuevillas explica o facto, escrevendo que “um estado de anarquia guerreira de tal cronicidade e tão profundamente entranhado no cerne do país tinha que descansar necessariamente num relaxamento dos vínculos tribais, na preponderância política de uma oligarquia feudal e num desenfreado caudilhismo” de tal ordem que a “oligarquia e o caudilhismo deviam dar a tónica, senão da organização, pelo menos da realidade política imperante entre as gentes calaicas nos tempos imediatamente anteriores à conquista romana.
Com o respeito devido a quem tão sagaz e porfiadamente tem procurado esclarecer a existência dos nossos antepassados castrejos, cremos que só o princípio da consanguinidade do clã proporciona a explicação satisfatória, sem embargo de, com o pré-historiador galego, pensarmos que “nada sabemos de concreto para além da existência das civitates, da sua divisão em gentilidades e da cronicidade das guerras”.
Nos grandes aglomerados, como a citânia de Briteiros, é de crer, corno já notou Alberto Sampaio, que houvesse uma classe de possidentes, formando “a classe aristocrática, obedecendo ela mesma a um chefe, como o Camalo das inscrições de Briteiros, que sê-lo-ia de toda a cividade representada por este ópido”, sendo também verosímil a opinião de Martins Sarmento sobre a interdependência dos castros no sistema defensivo de algumas regiões. Estes factos eram a consequência necessária da evolução social, verificando-se nas regiões mais densamente povoadas e abertas ao comércio. Em nada afetam a conceção gentilícia das comunidades e a dos castros como sua expressão topográfica, quer nas origens, que Alberto Sampaio admitiu como provável, quer na época da invasão romana, nas regiões mais isoladas do interior. Significam apenas que na realidade da vida social, como sempre, a inovação coexistiu com o arcaísmo e que as tribos não seriam constituídas uniformemente, existindo nalgumas o patronato, como informa Plínio com a distinção entre livres e não-livres-, o que aliás não tolhe que com Schulten consideremos “os quatro mil ou mais ' castros ' da Galiza e do Norte de Portugal como correspondentes a outros tantos clãs calaicos”, e, consequentemente, concebamos o comum destes povoados como comunidades étnicas em que os moradores se reputavam filhos do mesmo sangue, donos da mesma terra indivisa, solidários nos mesmos labores, participantes na repartição das mesmas regalias e frutos e submetidos às mesmas normas.
O relaxamento do vínculo de consanguinidade implicava, internamente, no seio das comunidades, a individualização das consciências e, de certo modo, a de alguns bens, e, externamente, a sujeição perante uma organização política forte, de tendência territorial —, e estes factos só começaram a verificar-se plenamente com a conquista romana.
Estrabão aludiu ao banditismo das tribos montanhesas, designadamente dos calaicos, explicando-o pela pobreza do solo em que viviam, o que os obrigava a roubar os vizinhos.
Não chegou até nós nenhum informe acerca dos conflitos, por assim dizer privados, entre tribos, gentes ou castros, subsistindo apenas e sem os pormenores que desejaríamos, as notícias das guerras sustentadas com estrangeiros, sobretudo com os romanos; no entanto, a explicação do geógrafo grego deve conter uma parcela de verdade. As condições de vida, com efeito, deviam ser precárias para a maioria dos habitantes da região cistagana, a ponto de já se ter interpretado a campanha de Viriato como “movimento social”; mas quando se atenta no facto de as guerras sempre haverem atingido na região castreja o ponto culminante da combatividade com a defesa dos povoados, por detrás das muralhas e parapeitos, e não em campo aberto, é-se levado a pensar na veemência impulsiva do sentimento comunitário e na repulsa intemerata do que se lhe opunha. Era outro ditame do sangue, cujo alento ancestral dir-se-ia nutrir o tradicionalismo, sempre arcaizante e não raro misoneísta, de minhotos e transmontanos, tão tenazes uns e outros no respeito das suas usanças e na firmeza das suas crenças.
O princípio da consanguinidade, apesar de não tolerar as diferenciações entre os indivíduos da mesma estirpe, nem por isso promovia o desenvolvimento moral das relações humanas.
Corrigia-o, de certo modo, o cultivo da terra, porque a agricultura torna as sociedades sedentárias e, ao contrário da caça selvícola ou do pastoreio nómada, que rapidamente matam a fome, quebranta as reações impulsivas, habituando o espírito a tornar-se previdente, suspicaz e observador, pela incerteza do amanhã e pelos riscos do produto do trabalho. A enxada e o arado elevaram o homem, fixando-o ao lar e afastando-o do mundo mágico com os primeiros rasgos da consciência reflexiva, mas embora possa conjeturar-se que a sedentariedade e o aumento das famílias e da população tivessem feito evolucionar estas comunidades no sentido da diferenciação individual, da especialização do trabalho, da alodialidade da terra e das facilidades na admissão de estranhos, não há indícios de que ao tempo da invasão romana já se tivessem elevado à noção de justiça, superior e independente, nem que o indivíduo houvesse alcançado a capacidade do ser que se autodetermina, dado que só na comunidade e por ela usufruía algumas vantagens, que não direitos, no denso e complexo sentido desta palavra.
A tosca escultura das estátuas calaicas representa, sem dúvida, um progresso moral e o alargamento da sensibilidade estética. A figuração animal da arte rupestre havia brotado principalmente da excitação sensorial e da emoção dinâmica do caçador. Com a escultura dos berrões trasmontanos, só possível numa sociedade sedentária, e, sobretudo, com a representação plástica das estátuas calaicas, qualquer que tenha sido o seu simbolismo, a sua rudeza de expressão rítmica, e a sua destinação, exprime-se uma ascensão da sensibilidade da arte figurada, em que o homem já aparece como polo de interesses.
Deste homem, porém, na sua realidade viva, tudo é desconhecido: a linguagem, que no juízo de Adolfo Coelho deveria ter sido “um dialeto do grupo céltico” e no de Vittorio Bertoldi comportava “um elemento mediterrâneo de origem europeia em contato com um elemento mediterrâneo de origem africana, a estrutura mental, porventura pré-lógica, o pecúlio do saber concreto, os mitos que criara ou herdara, o tremendum que o apavorava, o numinoso que o espiritualizava, e nem sequer pode dizer-se com verosimilhança como media o tempo, contava os objetos e avaliava as coisas e os seres.
Um facto, no entanto, é certo: o mundo moral do castrejo era mesquinho, introvertido, confinado ao horizonte insignificante da muralha que o protegia. Tê-lo alargado, transformando o clã consanguíneo em circunscrição territorial e arrancando o homem às angústias de uma maneira de conviver que matava à nascença a diferenciação das consciências e aturdia o despertar da inteligência com as deformações do pavor demoníaco e do pensamento mítico, para o converterem, primeiramente, num indivíduo de mentalidade lógica, capaz de discorrer sobre abstrações com facilidade parecida à do manuseio de objetos tangíveis e de se tornar sujeito de direitos e de obrigações por atos de vontade autónoma, e, depois, numa pessoa moral, possuído de um sentido da vida, foi o papel histórico de Roma e do Cristianismo.
|
|