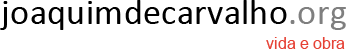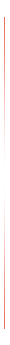Na fase atual dos estudos sobre a história do pensamento científico e filosófico em Portugal impõe-se acima de tudo o esclarecimento de problemas de objeto preciso e limitado, pois só assim se alcançarão verdadeiros progressos. A índole destas lições exclui, porém, a investigação analítica, cujo ambiente próprio é o escritório ou o seminário escolar, e, por outro lado, é útil de vez em quando proceder à revisão de alguns conceitos fundamentais do objeto dos nossos estudos e rememorar interpretativamente o caminho percorrido. Nesta ordem de ideias, substituirei as investigações biobibliográficas e as observações histórico-críticas relativas à origem, coerência, consistência e correlação das conceções filosóficas e científicas de portugueses, pela visão de conjunto, necessariamente esquemática e descarnada, sobre os objetos e os ideais que lhes nortearam a reflexão durante a Idade Média e a Renascença.
Durante a Idade Média, entre nós, como aliás em toda a Cristandade, o sacerdote foi sociologicamente o representante do saber, e este facto implicou várias consequências ou correlações, das quais de momento importa apenas acentuar a íntima compenetração da Teologia e da Filosofia e a atitude de humildade, pela qual o pensador se obscureceu e apagou perante a majestade fulgurante da verdade, dom de Deus e património do género humano.
Esta conceção da atividade filosófica e esta atitude intelectual impuseram-se mais ou menos a todos os pensadores medievais: se a primeira determinou que a filosofia tivesse por missão capital mostrar que o mundo é cosmos, isto é, um conjunto coerente e ordenado na conformidade de um plano divino transcendente, a segunda não pôs barreiras ao que a sensibilidade moderna considera como propriedade intelectual, pois foram frequentes os plágios e as deflorationes, os excursos e Os exempla, de tal sorte que perante os pensamentos e as conceções desta época cumpre cautamente formular sempre o grave problema de crítica interna acerca da respetiva originalidade.
Os escritos dos nossos pensadores medievais não se furtaram a tal tendência assimiladora e de apropriação, nem poderiam furtar-se, porque a cultura filosófica em Portugal nasceu sob o influxo do movimento de ideias que originaram a Escolástica do século XII e cuja influição foi tão profunda que, ao contrário da formação das fronteiras, cuja história é a luta pela secessão do território do senhorio político de Leão, de Castela e dos Árabes, a origem e desenvolvimento da atividade filosófica vinculam-se intimamente à história da importação e da assimilação das diversas correntes do pensamento escolástico.
Nestas condições, e concordante com o estilo da época, a meditação filosófica patenteia exuberantemente o predomínio da reflexão sobre os valores ético-religiosos, isto é, uma filosofia cujo objeto não foi a explicação da realidade, mas o rever-ser, de harmonia com as verdades reveladas; e, consequentemente, foi no plano teocêntrico que se moveu o nosso pensamento medievo, e, dentre as atitudes teoricamente possíveis, teve ascendência e predomínio o intento polémico ou de combate aos erros e vícios que desviam ou podem transviar o espírito no 'caminho ou no anseio da perfeição.
Com efeito, é este espírito militante e de controvérsia, em que os valores de bem e de verdade se apreendem por contraste, isto é, por oposição ao mal e ao erro, que ressalta flagrantemente das obras teológicas mais representativas, como os sermões de Santo António, os escritos de Álvaro Pais e o Livro da Corte Imperial.
São vários e complexos os problemas que os sermões de Santo António suscitam; para o nosso ponto de vista bastará apenas acentuar que, apesar de haverem chegado até nós em quase descarnado esquema, sem a vibração da eloquência que fez de Santo António um extraordinário orador, revelam não obstante o amor a toda ia criação, como obra do mesmo Pai, a exaltação das virtudes da caridade e da fidelidade mística à Igreja, e a veemência de um missionário que acima de tudo visava fins práticos e apologéticos, atuando mais sobre as almas que sobre as inteligências. Em geral, Santo António não procurava alcançar a conversão ou resipiscência mediante a apologia direta, mas pelo contraste, isto é, mostrando o vício, o mal e o erro, para que da respetiva exposição, crua e realisticamente apresentada por vezes, ressaltassem polarmente a virtude, o bem e a verdade.
É esta mesma atitude, porventura mais vincada, que se encontra nalguns escritos do franciscano Álvaro Pais, bispo de Silves, designadamente no De Planctu ecclesiae, redigido em Avinhão entre 1330-1332, e no Collyrium lidei adversus haereses, escrito no Algarve depois de 1344. No De Planctu há a defesa combativa da conceção política teocrática, e toda a obra foi escrita sob impressões tão pessimistas que nenhuma classe, grupo social, ou forma de vida do seu século se furta à mancha do vício e do pecado; no Collyrium, verte amargura e indignação pelas duzentas e cinquenta e oito heresias, antigas e contemporâneas, algumas das quais se reportam diretamente ao meio português e ao ensino da Universidade de Lisboa. Finalmente, é ainda esta atitude polémica que está na estrutura e no desenvolvimento da Corte Imperial, no qual o seu ignorado mas esclarecido e penetrantíssimo autor, apoiado amplamente em Raimundo Lulo, defende, como o filósofo maiorquino e fora de qualquer influência tomista, o que é estranhamente singular, o Ocidente e a teologia católica contra a Igreja grega, a Sinagoga, a Mesquita e as subtilezas do pensar pagão.
Esta atitude polémica implicava naturalmente uma direção do pensamento e uma formação lógica nas quais a arte de refutar primasse sobre as artes de inventar e de demonstrar. A partir da divulgação de todo o Organon de Aristóteles nos fins do século XII e da diversidade das interpretações lógico-metafísicas e correlativas consequências teológicas, como por exemplo a conexão do nominalismo e do triteísmo, os estudantes de Artes, sobretudo nas escolas parisienses, foram como que adestrados nesta arte refutatória e na disputa dialética como propedêutica necessária à defesa das conceções teológicas. Dos vários escritos que pelos fins do século XIII e durante o século XIV procuraram satisfazer esta exigência didática, nenhum logrou tão ampla e constante aceitação como as Súmulas Lógicas de Pedro Hispano.
Não é esta a oportunidade de examinar as graves questões relativas à autoria e originalidade deste livro, nem tão-pouco as referentes à identificação do seu autor com Pedro Julião, Pedro Hispano, lente da Universidade de Siene, e com o Pontífice João XXI; embora admitamos que estas últimas questões e dúvidas se devam resolver afirmativamente, interessa-nos apenas acentuar a alta importância deste livro na filosofia da linguagem, especialmente no capítulo da significação das palavras. Pedro Hispano resumiu o Orgarton de Aristóteles e colheu fartamente nas Súmulas de Lambert de Auxerre, assim na matéria como na respetiva ordenação; não obstante, soube dispor o copioso material em ordem à didática e à arte da disputa, realizando, assim, uma das aspirações da formação pedagógica do seu tempo. É, esta a sua feição dominante, e precisamente por a ter levado a cabo de harmonia com as exigências do ensino do trivium é que alcançou tão extensa difusão nas escolas do 'Continente até meados do século XVI.
Como é óbvio, a estrutura deste pensamento polémico, ambicioso de aspirações causal-finalistas e desdenhoso do ser ou do estar dos objetos e dos factos no seu comportamento natural, não se localiza num país nem se restringe a certas individualidades. Foi comum a diversas nações, nasceu e cresceu com as exigências do espírito medieval, de sentido teocêntrico; por isso, a aceitação e desenvolvimento que ele teve em Portugal podem ser indício de um dos aspetos da nossa atitude mental, historicamente considerada, mas não exprimem uma característica peculiar do nosso génio nacional. O vinco da nacionalidade só nos aparece, e bem acentuado, no predomínio da problemática política, na qual se refletem as condições privativas do nosso País, embora impregnadas do espírito ecuménico da Respublica Christiana.
Durante a primeira dinastia, é porventura no Speculum regum de Álvaro Pais, bispo de Silves, que o concluiu em Tavira, em 1344, que se encontra a reflexão mais adequada e conforme à situação portuguesa. Pensado e escrito depois da batalha do Salada, Álvaro Pais, qualquer que tenha sido o local da nossa Península em que nasceu e a escola em que se formou, é para os países peninsulares que dirige a reflexão, ao redigir este diretório de príncipes sem ambições universalistas, embora tenha o vinco dos escritos similares de São Tomás de Aquino e de Egídio Romano pensados para toda a Cristandade. Verdadeiramente, porém, a problemática política só surge com amplitude, profundidade e complexidade depois de Aljubarrota, ao dealbar do renascimento da cultura antiga e da nova era da nossa história. É que, no início do século XV, Portugal gerou a mais profunda revolução da sua vida histórica: destruíram-se interesses fortemente enraizados, renovou-se a vida pública, a começar pela própria dinastia, ascenderam a posições dirigentes pessoas até então obscuras, a nação tomou consciência do seu destino. Surgiram então, com imperativa exigência, os mais delicados problemas morais e políticos, e se não faltaram condutores e conselheiros no domínio da ação, também no campo especulativo houve quem pensasse alguns desses problemas. Duas figuras se destacam sobremaneira, o infante D. Pedro e o rei D. Duarte —, aquele pensando e, pelo menos, escrevendo o primeiro borrão do tratado Da Virtuosa Benfeitoria, no qual se desenvolve exaustivamente, à maneira escolástica e com preocupação ético-política, o problema do benefício, este, deixando correr a pena no Leal Conselheiro, como quem se abandona ao curso das reflexões e estímulos de ocasião, sem no entanto jamais perder de vista a saúde da alma e o bem-comum.
Foi com esta dinastia, pelas circunstâncias da sua ascensão ao trono e pelo reflexo da controvérsia conciliarista, que verdadeiramente surgiu o problema do fundamento do poder político. Como além-fronteiras, mas sem violência nem pugna, defenderam uns a tímida origem democrática, isto é, o consenso dos povos, e outros a procedência divina, a cuja doutrina Diogo Lopes Rebelo deu a mais sábia expressão com o Liber de republica (Paris, 1497?), dedicado a D. Manuel, a quem na mocidade ensinara os rudimentos de Gramática (Tabula) e na maturidade, longe da Pátria, sendo mestre no colégio parisiense de Navarra, pretendia doutrinar com a teoria da instituição monárquica e dos deveres do rei, inteiramente vinculada à tradição medieval dos diretórios políticos, apesar do recurso frequente a Aristóteles e Cícero: nichil profecto honestius videbatur aut utilius quam definire quibus institutis ac artibus regnum vestrum vestra regia maiestas pulcherrime atque perbeate possit gubernare, confessa.
Contemporaneamente ainda, e com mais densidade afetiva que este problema, surgiu o da guerra justa ou, na sua tradução popular, a legitimidade da expansão nacional. O território português fora conquistado palmo a palmo aos mouros, e esta conquista, como guerra defensiva que era, tinha uma justificação absoluta perante a consciência religiosa. O problema prático não se formulara então, e os raros que o examinam, como Álvaro Pais, no De Planctu ecclesiae, fazem-no universal e abstratamente. Não assim no século XV. Com as expedições marroquinas de Ceuta e de Tânger, Portugal já não defendia o seu território, senão que ia atacar o muçulmano no próprio lar. Era isto legítimo?
Eis o problema, que a política de expansão colocara perante a consciência moral e religiosa, e cujas vicissitudes e antagonismos as crónicas de Azurara e de Rui de Pina nos relatam secamente. Para solucionar as divergências, que laceravam a unidade da ação nacional, a alma tão escrupulosamente delicada do rei D. Duarte viu como recurso supremo a decisão do Pontífice. Roma falou; mas o problema persistiu latente, encontrando-se ainda no século XVI, em Gil Vicente e Camões, um eco do dissídio quatrocentista, e corno então era o sentimento de uma missão coletiva que,exaltava a consciência profunda da Nação, no ardor de unir espiritualmente os homens e os povos com os laços de religião.
Do que temos dito ressalta claramente que o nosso pensamento medieval foi estruturalmente dialético e não atentou com amor e curiosidade insatisfeita nos seres e acontecimentos da Natureza. Claro que não nos faltam livros de cetraria, de falcoaria, de montaria, de certo modo, documentários do sentido da objetividade e da observação, mas a respetiva problemática é escassamente científica e em nada invalidam o juízo de que os estímulos mais vivos e constantes do nosso pensamento medieval foram teocêntricos: Deus, o homem como criatura e como microcosmo, o destino humano e o bem-comum como reflexo na ordem política do plano providencial.
O século XVI, porém, traz-nos uma profunda transformação da mentalidade e sobretudo na direção dos problemas: comparem-se, por exemplo, os escritos da Ínclita Geração com os de Pedro Nunes e de Garcia de Orta, e logo se notará que estes pressupõem e exprimem conhecimentos diversos, novo ideal científico, diferente atitude metodológica e, sem quebra da tradicional ortodoxia religiosa, um sentido antropocêntrico da vida. A subitaneidade e expansão dos grandes acontecimentos produzidos nos domínios da Geografia, da História Natural, da Astronomia, da erudição, da técnica e das mundividências, cuja correlação simultânea constitui um dos mais subtis problemas da sociologia da ciência, não se verificaram, como é óbvio, apenas em Portugal, mas apresentaram-se entre nós com características peculiares.
Tanto quanto é possível reduzir a esquemas tão complexo e impetuoso movimento, pode dizer-se que eles foram consequência dos factos propostos à consideração intelectual pela revivescência da literatura greco-latina e pelo alargamento do espaço terrestre e celeste em resultado dos descobrimentos, os quais, no dizer de Humboldt, como que duplicaram a obra da Criação, além da mutação que implicou a nova ordem de problemas sobre o homem.
Estes extraordinários acontecimentos desentranharam novo rumo à civilização, mas pelo que à mentalidade portuguesa respeita geraram duas espécies de saber: o saber de restituição e o saber original e inédito.
O saber de restituição foi cronologicamente o primeiro, e na sua desenvolução ou marcha podem distinguir-se as fases da renovação do ensino da Gramática, de que é exemplo a Nova Grammatica ars (1515) de Estêvão Cavaleiro, que aliás conserva ainda numerosos vincos da didática tradicional do trivium, a das edições críticas de textos clássicos, de que é expressão perfeita o comentário literal de Martinho de Figueiredo à epístola de Plínio a Vespasiano, proémio da História Natural, e a da reflexão lógica, ao princípio, ainda com feição escolástica, expondo a via dos nominalistas e a dos realistas, como a Margallea Logices (1520) que Pedro Margalho ditou em Salamanca, e mais tarde, com o comento de Diogo de Contreiras à Dialética (1551) de Jorge Trapezúncio, com espírito francamente renascente, sob a tendência humanística de redução da lógica à arte de dissertar.
Esta fase inicial assentou na conceção retrospetiva ou passadista da ciência, mas apesar de insuficiente e limitada não foi estéril, porque preparou a ciência nova, despertando o espírito crítico e desterrando do saber erros e desvarios longamente enraizados.
Não é fácil determinar a quota que no alvorecer da modernidade cabe ao nominalismo, ensinado durante breves anos na Universidade de Lisboa por João Ribeiro, o entusiástico discípulo de Juan de Celaya, e aprendido em Paris por vários bolseiros, designadamente os que estudaram no Colégio de Montaigu; admitimos, porém, que não foi exígua, mormente quando se pensa que as três grandes figuras da época, D. Francisco de Melo, Pedro Nunes e Garcia de Orta tiveram ensejo de se compenetrarem do sentido de objetividade que o nominalismo desentranhou: o primeiro, no Colégio de Montaigu, centro do terminismo e das novas conceções físicas, especialmente da teoria do impetus, e na privança com Gaspar Lax, nominalista convicto, o segundo, em Alcalá de Henares ou no estudo das obras de Celaya, que não em Salamanca, onde o nominalismo mal pousou como ave de arribação, e o terceiro, como imperativo docente, no ensino da cátedra de Lógica da Universidade de Lisboa.
Eliminar erros equivale frequentemente a romper o caminho da verdade, e, com efeito, a nossa cultura do século XVI, para poder desenvolver-se de harmonia com o espírito da época, carecia de ser expurgada de falsos juízos e de teimosas crendices, e de se regenerar na clareza harmoniosa, embora nem sempre exata, do génio helénico. Atente-se, por exemplo, no desterro da astrologia médica pelas doutrinas de Hipócrates, restituídas com mais ou menos limpidez pelo ensino e pelo comentário de Henrique Cuelhar, o primeiro lente de Medicina na restaurada Universidade de Coimbra, e notar-se-á o passo imenso que representou a substituição de autoridades livrescas, da Idade Média pelas da Antiguidade, na formação do espírito de objetividade e da mentalidade científica. É que o saber de restituição, se por um lado pressupunha a subordinação da inteligência à autoridade, por outro implicava já um ato de crítica e de preferência, no qual alvoreceram a reflexão autónoma e a meditação de novos ideais científicos ou filosóficos.
A esta luz, afigura-se-nos que a expressão mais alta que o saber de restituição entre nós atingiu, e que a todas as demais sobreleva na clareza euclidiana e na objetividade, foi dada por D. Francisco de Melo (1490-1536). Dos comentários deste erudito, de quem Gil Vicente foi dizendo entre chistes que tinha “ciência avando”, destaca-se singularmente o que dedicou à primeira parte do De insidentibus in humidis (sic), de Arquimedes.
Sob o ponto de vista do texto arquimediano é obra de suma importância, pois bastará observar que não chegou até nós nenhuma cópia do texto grego, constituindo ao presente, que saibamos, a mais antiga fonte latina para o conhecimento do famoso tratado de Arquimedes, anterior, consequentemente, às traduções de Nicolau Tartaglia (1551) e de Frederico Comandino (1558).
Como esperamos provar, e estes factos já inculcam, trata-se de uma obra de alto valor para a história da ciência, mas no ponto de vista puramente nacional, da formação do nosso espírito científico, o seu valor não é menor, porque, de certo modo, Arquimedes está para a constituição da ciência moderna como Aristóteles para a escolástica medieval. Foi na obra do genial siracusano que se aprendeu, contra os hábitos mentais da tradição, a desterrar as forças ocultas e as propriedades irredutíveis, a substituir na Física a consideração qualitativa pelo exame quantitativo, isto é, a associar com mais rigor o cálculo à experiência, e, sobretudo, contra as ambições desvairadas do espírito de sistema, a estabelecer problemas bem delimitados e a resolvê-los precisamente pelo método científico. Por isto, a influência de Arquimedes dá a medida do espírito científico do século XVI, e entre nós essa influência foi grande, embora menor do que na Itália. Ela radica em D. Francisco de Melo, prematuramente falecido com grave perda para a nossa ciência, e manifesta-se sobretudo em Pedro Nunes, que conheceu profundamente os escritos do genial geómetra.
Este saber de restituição, como se vê, nem foi inútil nem foi estéril, mas a sua missão foi essencialmente propedêutica, porque a erudição tinha de ceder o passo à ciência, e a ars demonstrandi à ars inueniendi. Da nova forma de saber são claro testemunho Garcia de Orta e Pedro Nunes —, aquele, pelas qualidades científicas de observador que se norteia e deixa guiar pelo senso-comum e pelo espírito de objetividade, este, pela clareza do seu ideal científico e íntima associação do cálculo aos dados da experiência ou da reflexão. Várias vias concorreram para o novo ideal científico, desde a incitação filosófica do nominalismo ao desenvolvimento dos estudos matemáticos no ensino do quadrivium, destacando-se, porventura, dentre todas, a crise do saber tradicional, isto é, a eclosão do sentimento do não-saber, intenso e vivido em Pedro Nunes, suscitado em grande parte pela realidade surpreendente das navegações e que se acompanhou do anelo de um novo saber, coerente com a imagem da natureza recém-descoberta e com as necessidades vitais e políticas da expansão ultramarina e da colonização.
Uma vez mais se comprova a velha afirmação de Aristóteles de que a “admiração” é a madre do saber, por ser nela que cumpre radicar a comoção intelectual que conduziu a mente de alguns portugueses a novas vias de explicação e de ordenação dos conhecimentos e dados da realidade.
Se não erramos na interpretação dos factos, três formas de saber emergiram com individualidade e diversa configuração: o saber de compreensão e de explicação, sobretudo da nova imagem da Natureza, o de valores e o de ação ético-social.
Cada um destes saberes tem a sua índole e significação própria, assinalando até os dois últimos, de certo modo, pelas suas fortes raízes nacionais, uma das características da nossa cultura, antes como depois do Concílio de Trento, sempre zelosa e diligente em quase todas as épocas em firmar a existência humana numa ontologia em que confluíssem o sobrenatural e o natural. Atentem-se, por exemplo, na legislação, nos processos da nossa colonização, na índole da ação missionária e na obra vastíssima dos nossos teólogos e moralistas, por vezes de profunda problematicidade acerca da essência e dos estados do ser humano; no entanto, por agora, esboçaremos apenas rapidamente os tópicos capitais do primeiro destes saberes, isto é, o saber propriamente científico.
A ruína da cosmografia tradicional, da qual João de Barros na Ropica Pnefma (1532) deu um quadro expressivo, impunha a um tempo a descrição retificada da geografia e a interpretação explicativa da Natureza, mas se aquela legou à ciência geográfica e cartográfica dados notáveis, esta não suscitou teorias gerais de grande alcance. Tanto quanto pode penetrar-se na intimidade da emoção científica dos nossos sábios quinhentistas, somos levados a crer que eles não amaram nem sentiram a Natureza como todo, e só nalgumas regiões dela os seus olhos pousaram com inquieta curiosidade e afeto compreensivo: no mar largo e no céu estrelado, nas plantas e nos animais. Dir-se-ia que a luz e o movimento os não emocionara, nem os incitara à cogitação de uma nova explicação científica, diversa da explicação tradicional, de procedência aristotélica; se é certo que António Luís nos cinco livros Problematum (Lisboa, 1540), com os quais pretendera esclarecer dificuldades que Alexandre de Afrodísio considerara insolúveis e os eruditos, notadamente Pedro Aponense, frequentemente aditavam às edições dos Problemas atribuídos falsamente a Aristóteles, e sobretudo no De occultis proprietatibus, prefigurou a Natureza como teatro de forças vitais, não menos certo é que a sua prefiguração se baseia em analogias e responde a meras verosimilhanças e a conjeturais experiências possíveis, insinuadas pela erudição livresca e polemizante, que não pelo contato direto com a realidade natural. Pelo contrário, a emoção do mar largo, intimamente associada à do céu estrelado, deu-nos, graças sobretudo ao génio de Pedro Nunes, a ciência da navegação e a teórica da esfera, cuja mais notável expressão é o De crepusculis, e a emoção admirativa e utilitária das plantas e dos animais, com Garcia de Orta e outros minores, a botânica, a zoologia, e os primeiros lineamentos da parasitologia.
É sempre um rasgo difícil, por vezes decisivo do progresso científico, o abandono das conceções tradicionais, podendo perguntar-se se Garcia de Orta e Pedro Nunes merecem ou não plenamente esta glória, visto que o pensamento de um e de outro se prende ainda, por vezes, à letra dos antigos e se não despoja inteiramente das preocupações eruditas da crítica textual; mas seja qual for a resposta, afiguram-se-nos incontestáveis e modelares as suas atitudes científicas, assim como a correlação das suas reflexões com alguns problemas e circunstâncias do Portugal seu contemporâneo. Se a ciência é um conjunto de verdades cuja autoridade radica exclusivamente nas provas submetidas à razão, isto é, nas observações e demonstrações cuja consistência e coerência cada um pode livremente refazer e examinar, Pedro Nunes e Garcia de Orta, assim pelo desembaraço com que desarticularam certas afirmações tradicionais como pelo vigor com que propuseram os seus juízos pessoais, deram sobeja prova de independência mental e de sentido de objetividade, e, portanto, de verdadeiro espírito científico.
|
|