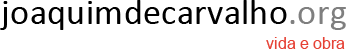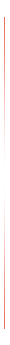Historiador da Filosofia e da Cultura, pensador e ensaísta, erudito e professor, Joaquim de Carvalho foi, nas quatro décadas que vão de 1918 a 1958, ano da sua morte, uma das maiores figuras, em Portugal, dos estudos a que se dedicou, e em todos estes domínios do scibile deixou a marca duradoura da sua personalidade de exceção. Como historiador da Filosofia e da Cultura, não vejo quem se possa comparar com ele tanto na vastidão dos conhecimentos como na profundidade e na originalidade com que os organizou, sempre com o mais escrupuloso respeito das perspetivas sincrónicas da evolução das ideias e dos factos culturais. Este respeito rigoroso pelo carácter histórico do pensamento já levou críticos apressados e superficiais a sustentar que Joaquim de Carvalho não foi filósofo. Só pela ignorância da historicidade essencial de todo o pensamento metódico é que seria possível visar Joaquim de Carvalho para lhe formular um tal reparo. E verdade que ele se abstinha intencionalmente de perder o seu tempo em jogos estéreis de categorias, que às vezes não ultrapassam a esfera do psitacismo dialético, dentro do restrito domínio do hedonismo conceptual. Se ser filósofo quer dizer comprazer-se no brinco subtil de uma nova escolástica, abstraindo do objeto humano, pelo esvaziamento de uma antropologia fundamental, Joaquim de Carvalho não foi filósofo. Mas desde as primícias da sua pesquisa intelectual e histórico-filosófica, ele demonstrou ser pensador ou investigador de ideias encarnadas, colhidas da sua própria realidade viva e vital, em qualquer época da história do pensamento, desde a Idade-Média até ao século XIX, desde o Renascimento até ao século XX. E em todos os domínios da pesquisa doutrinária: na evolução da metafísica tradicional e escolástica, na libertação da reflexão livre do Humanismo, na história da ciência moderna, do racionalismo cartesiano, da filosofia das Luzes, do idealismo alemão, correntes de que tinha um conhecimento profundo e amplo, e com as quais sabia relacionar, de maneira científica (isto é, com ostinato rigore), os autores portugueses que mais amava, de Francisco Sanches a Verney, de Ribeiro Sanches a Antero de Quental. Já nos seus primeiros trabalhos ele se propõe dar do pensamento português uma visão histórica harmoniosa, um quadro histórico que, até ele, não existia. É verdade que Joaquim de Carvalho não pôde debuxar-nos, de maneira orgânica, a história do pensamento nacional, embora nos tenha deixado trabalhos importantíssimos para um tal debuxo, que só poderá ser efetivado por um grupo de estudiosos (historiadores, filósofos, filólogos) da civilização portuguesa. Se algum dia houver que escrever-se uma história da filosofia em Portugal, os que se abalançarem a isso encontrarão já, nos trabalhos do professor de Coimbra, as bases para um tal edifício.
Se a obra de Joaquim de Carvalho, que hoje começa a reeditar-se de maneira coerente, é fundamental para o estudo do pensamento português, da cultura e da ciência em Portugal, o seu autor deixou uma recordação indelével em todos os que tiveram a sorte de o conhecer e de com ele privar. Nunca fui aluno de Joaquim de Carvalho nos bancos universitários, mas considero-me como seu discípulo, pois, como os verdadeiros Mestres, ele estendia o seu ensinamento a todos os estudantes, mesmo de outras Faculdades, que o procurassem. Lembro-me, como se fosse ontem, das lições que me dava quando, por volta das 17 horas, saía da Biblioteca da Universidade. Com o seu sorriso largo e franco, acolhia-me de braços abertos, convidando-me a passear com ele pelo pátio da velha Alma Mater: só se detinha para admirar a paisagem suave do Mondego e dos campos circundantes. Um dia, a propósito de um trabalho meu, dissertou longamente sobre Pascal, não apenas o autor de Pensées mas o polemista das Lettres à un Provincial, o cientista rigoroso que preconizava o método experimental, o matemático que estabeleceu bases para o cálculo das probabilidades. De outra vez ouviu-me sobre Antero de Quental, sugerindo-me retificações a propósito dos comentários de António Sérgio aos Sonetos e apreciando generosamente algumas análises que eu tinha formulado. Em 1948, tendo pertencido a um júri de exames no liceu da Figueira da Foz, encontrei-me frequentemente com ele. Falava com voz quente, o tom era coloquial e não catedrático, discordava ou concordava sem reticências, ria-se sem reserva, era tolerante, atenuava críticas que o verdor dos meus anos avolumava sem razão e só era implacável para a hipocrisia e para o fanatismo, em qualquer campo ideológico que se situassem. Recordo-me de que, certa tarde, tivemos de aguardar em Alfarelos o comboio para Coimbra. Passeando a todo o comprimento da estação, falou-me dos seus trabalhos, dos amigos e colegas, de Fidelino de Figueiredo, de Agostinho de Campos, de Júlio Dantas, defendendo-o perante o fogo dos meus remoques polémicos. «— Não tem razão», disse-me pacatamente. «Júlio Dantas é um jornalista de talento excecional, como já poucos se encontram. Além disso, é um escritor de bons recursos estilísticos. Bem sei — continuou — que o ridicularizam. Mas olhe que é um ótimo presidente da Academia das Ciências de Lisboa e um dia hão de aperceber-se de que faz muita falta». Fiquei, confesso, admirado por ver o grande Mestre defender Júlio Dantas, e calei-me, tímido, prometendo a mim mesmo ler com mais atenção os seus escritos. Pude verificar, mais tarde, que alguns dos seus artigos de jornal são, de facto, excelentes, bem escritos e com ideias; mas nunca consegui ter pelo literato o apreço que lhe votava Joaquim de Carvalho, embora esteja disposto a reconhecer que promoveu, na Academia, atos de cultura que honraram a instituição.
Quando, em 1948, lhe anunciei que partia para Roma, logo me pediu que verificasse alguns documentos sobre Pedro Nunes existentes no Vaticano. Felicitou-me por ir trabalhar na Itália e disse-me da sua alegria por esta nação começar a dar provas de uma recuperação extraordinária no campo económico. Lembrou-me a sua recente viagem a esse país, à Inglaterra e à França. Na Inglaterra impressionou-o especialmente a cidade de Oxford, como ambiente ideal, criado pelos homens, para o trabalho universitário de docentes e discentes. Da França, país que particularmente amava, trouxe a recordação visual do gótico despojado, ainda marcado pela severidade do românico e disse-me: «— Veja Alcobaça. É uma transplantação para Portugal de uma admirável igreja francesa de Clairvaux. Mas o gótico não encontrou em Itália um bom terreno, pois foi afeiçoado por um outro génio, talvez mais criador, mas diferente. O gótico da catedral de Milão é um gótico desnaturado». Em Milão pôde admirar principalmente a nova atmosfera de diálogo civilizado, antes das eleições. «— Pude verificar com os meus olhos e com os meus ouvidos — continuou— como os habitantes deste país admirável estão ganhos para a democracia, pois em nenhures me foi dado ser testemunha de centenas de pessoas que, na praça pública, livremente, discutem a escolha dos que hão de governá-los». E dizia-me, na sua ingenuidade de idealismo cívico, que em todas as terras do Mundo se haveria de conquistar uma tão alta maturidade civil, e que tivera a impressão de regressar aos tempos áureos da Grécia. Era, não há dúvida, uma deformação profissional, determinada pela mitificação filosófica da discussão socrática e peripatética. Acrescentou: «— Em Florença tive uma impressão tão profunda como em Oxford, mas ainda mais cultural. Lá estão patentes os sinais indeléveis do magistério neoplatónico do Quattrocento. Lá pude surpreender as sombras de Ficino e de Poliziano».


 Filosofia e História da FilosofiaJoaquim de Carvalho - O Homem e a Obra, por (...)António de Gouveia e o Aristotelismo da (...)A Teoria da Verdade e do Erro nas (...)Leão Hebreu, Filósofo ? (Para a (...)Estudos sobre as leituras filosóficas de (...)Ver índice completo
Filosofia e História da FilosofiaJoaquim de Carvalho - O Homem e a Obra, por (...)António de Gouveia e o Aristotelismo da (...)A Teoria da Verdade e do Erro nas (...)Leão Hebreu, Filósofo ? (Para a (...)Estudos sobre as leituras filosóficas de (...)Ver índice completo