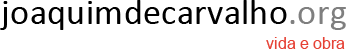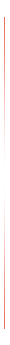No dealbar da propaganda antimonárquica, em 1870, no jornal Republica, escrevera Oliveira Martins que o novo ideal aspirava à «vida na liberdade». «É essa que invocamos, nós os republicanos, continuadores dos jacobinos de 1820, dos desprezados de D.S Pedro IV, dos patuleias de 36, continuadores e representantes do espírito de liberdade da moderna história da nossa terra».
Foi a seiva eterna deste sentimento, congénito da natureza humana e incitante do nosso viver como povo autónomo, que deu ao verbo de António José de Almeida a força militante e expansiva do seu apostolado nesses tempos de 1907, -- instantes então decisivos de uma luta que jamais terá fim, enquanto houver homens sobre a face da terra. Na entrevista publicada no Matin e adiante inserta, ao apresentar-se como arauto do partido republicano, declarava que Fernandes Tomás, Mousinho, etc. «representam uma escola, na qual se formou o carácter português. São os descendentes dos que, em 1640, quiseram, perante a cobardia dos primeiros Braganças, proclamar a República, e os republicanos de hoje são, por seu turno os descendentes dessa plêiade luminosa, que, se brilha pelo talento, brilha ainda mais pelo carácter».
Há uma tradição ininterrupta que, através das mais violentas tempestades, salvou até ao momento atual a liberdade; é a tradição republicana que forçosamente triunfará, porque mergulha as suas raízes na própria alma do país, e se expande radiosamente sob a influência da consciência contemporânea».
E com efeito assim é. Quando desprendemos a atenção da poeira dos incidentes da história política, e perscrutamos o fundo ideológico em que revoluteiam as ações dos homens, notamos a persistência tenaz dos mesmos ideais e dos mesmos problemas. Os nomes são diversos, no decurso do tempo; os ideais, porém, persistem e impõem-se tão tenazmente que quase se não pode falar de inovações políticas.
A soberania popular e o personalismo ou transpersonalismo dos fins do Estado são os marcos divisórios das duas grandes regiões em que, sobretudo há um século, se reparte a gente portuguesa.
O absolutismo, qualquer que seja a sua designação na nomenclatura política do dia, abomina a soberania popular e quer que a autoridade promane de Deus, das mais altas organizações sociais, ou do valimento dos técnicos, quando não do uso puro e simples da força ou do valor confusamente místico dos melhores. Com nomes ou inspirações diversas é sempre a mesma ideia basilar e o mesmo fim transpersonalista que se prossegue, isto é, a consideração dos indivíduos como simples meios dos objetivos supremos do Estado.
Os partidários da soberania nacional, pelo contrário, confiam ao povo e à maioria a fonte da autoridade legal, e chamassem-se no passado vintista, patuleias, progressistas, dissidentes, etc., ou se chamem hoje republicanos plebiscitários ou parlamentaristas, querem a divisão dos poderes, que sobre o governante domine a lei, e a lei seja instrumento de dignificação e libertação, defesa e garantia dos direitos individuais.
Na lição da nossa história, pelo ritmo quase pendular dos nossos extremismos e das nossas crises, há pois, duas únicas políticas, que aliás podem diversificar-se e com efeito se diversificam na realização dos respetivos ideais; e se estas diversificações são motivo de discordância na ação militante, para o crítico e para o filósofo constituem apenas espécies de dois únicos géneros, variedades de duas famílias, que dificilmente poderão cruzar-se.
O respeito pela soberania popular, o personalismo como fim ético do Estado, o parlamentarismo, foram os tópicos fundamentais da propaganda republicana. Eles não contêm, porém, toda a propaganda, nem explicam exclusivamente o seu sucesso assombroso, que, comovendo a alma nacional, a lançou na grave e heroica empresa da remodelação da vida pública.
Mesmo com «S. Francisco de Assis no trono», a República é inevitável, dizia António José de Almeida em 1908, num momento em que a tragédia de 1 de Fevereiro atraía para o jovem rei Manuel a comiseração, e os políticos da monarquia tentavam vida nova.
Não sei se nessa hora trágica, que a ninguém aproveitou e sobre o País distinguiu os negrumes do luto, ocorreu aos políticos reflexão idêntica à de Thiers, quando acerca de Napoleão observou que em tão extraordinária «vida, onde os militares, os administradores e os políticos têm tanto que aprender, os cidadãos por seu turno aprendem que não deve nunca entregar-se a Pátria a um homem, seja quem for o homem, sejam quais forem as circunstâncias». Não sei, insisto, nem esta é a hora de o saber; o que todos sabemos, e os factos dois anos depois definitivamente provaram, é que Portugal perdera a sensibilidade monárquica, o que não quer dizer que adquirira uma sensibilidade conscientemente republicana. Coincidência na negação, identidade no contra; porém na edificação, na sementeira dos sentimentos, sem os quais não é possível uma democracia, liberal ou social, pouco importa, oferece-se diante de nós o panorama da diversidade.
Qual foi, nesta cruzada sem par na vida política portuguesa, a missão de António José de Almeida?
É destino dos homens públicos, que na vida exerceram o mando e o poderio, projetarem no futuro o contraste dos juízos; este livro, porém, é uma resposta precisa à posteridade.
Há quem pense que qualquer obra literária é uma manifestação moral, e se este juízo é discutível, porque jamais delimitaremos as fronteiras entre a Estética e a Moral, para nós não sofre dúvida que a obra literária de um político, constituem-na escritos ou discursos, é necessariamente também uma obra de moralista, pelo menos na medida em que ela reflete um estado sentimental da sociedade, e exprime um ideal de renovação.
E, com efeito, foi no plano moral que António José de Almeida desenvolveu a sua propaganda. A República «é uma necessidade de ordem moral», dizia, e insistia: «nós não queremos uma revolução de cólera e de vingança, que extermine e se lance em represálias». Desta sementeira nós encontramos a um tempo a floração de uma grande e generosa personalidade e alguns frutos raros, que honram um País e dignificam uma causa, como o daqueles pobretanas guardadores de bancos nas horas revolucionárias de 5 de Outubro. É que o seu apostolado cívico, para uma vida pública digna e livre, infundia nas classes populares sentimentos de humanitarismo e melhoria social, e à pequena burguesia, ao homem médio de todas as classes, que labuta e se sacrifica honradamente pela esposa e pelos filhos, dava a garantia do respeito pela propriedade, e que as suadas economias não desapareceriam na voragem da desvalorização, nem seriam trituradas pela voracidade de um Estado que quisesse, à custa da pobreza geral, ser rico.
A sua propaganda não se orientou com rumo ao Estado omnipotente; Estado forte sim, pela autoridade legal, e rico sobretudo de cidadãos ativos, porque nem a António José de Almeida, nem ao republicanismo da sua geração, acudiu a ideia de separar em dois bandos os liberais e os democratas.
Democracia e liberalismo eram então e serão sempre dois conceitos que os filósofos podem dissociar e até opor com relativa autonomia, mas que na realidade social e política se oferecem inseparável e conjugadamente. Na essência, o seu republicanismo aspirava a uma nova articulação do Estado, na qual a liberdade fosse simultaneamente o meio e o fim do poder público.


 Prefácios,advertências e explicações (...)Cartas de José da Cunha Brochado ao Conde (...)Estudos sobre a Reforma em Portugal por J. (...)Manifesto do Reino de Portugal no qual se (...)Vida de bento de Espinosa em forma breve mas (...)Explicação préviaVer índice completo
Prefácios,advertências e explicações (...)Cartas de José da Cunha Brochado ao Conde (...)Estudos sobre a Reforma em Portugal por J. (...)Manifesto do Reino de Portugal no qual se (...)Vida de bento de Espinosa em forma breve mas (...)Explicação préviaVer índice completo